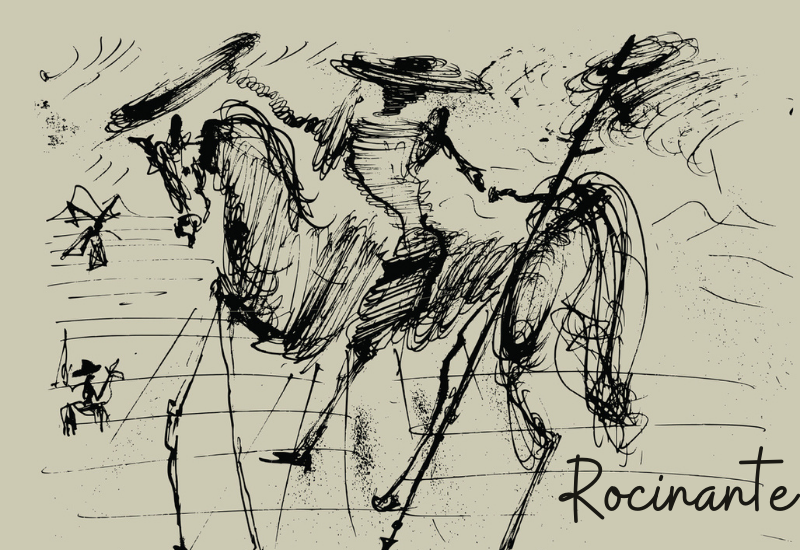DIP Financing e a recuperação judicial no Brasil: uma leitura sob a Análise Econômica e Comportamental do Direito
A crescente complexidade dos processos de recuperação judicial no Brasil impôs a necessidade de soluções financeiras mais sofisticadas e adaptadas à realidade das empresas em crise. Entre essas soluções, destaca-se o DIP Financing (Debtor-in-Possession Financing), um tipo de financiamento concedido à empresa em recuperação, com prioridade no recebimento e respaldo judicial. Após a reforma introduzida pela Lei 14.112/2020, que alterou substancialmente a Lei 11.101/2005, o ordenamento jurídico passou a tratar de forma expressa esse instrumento, tentando torná-lo mais atrativo a investidores, fundos especializados e até mesmo aos próprios sócios da empresa em crise.
Antes da reforma, o financiamento DIP era pouco praticado e envolto em insegurança jurídica. A legislação era lacunosa e não previa uma estrutura clara de prioridade ou proteção para os financiadores, limitando sua adoção a raras exceções. Dados do mercado indicam que, durante 15 anos de vigência da redação original da LRF, apenas seis financiamentos DIP chegaram a ser implementados entre milhares de planos de reestruturação aprovados. A ausência de incentivos jurídicos e econômicos fazia com que o crédito novo fosse escasso, muitas vezes impossibilitando a continuidade operacional da empresa. A reforma legislativa tentou reverter esse cenário ao introduzir, entre os artigos 69-A a 69-F da LRF, um regime jurídico próprio para o DIP Financing.
As novas disposições preveem que os créditos concedidos no contexto do DIP serão considerados extraconcursais e terão prioridade elevada no caso de eventual falência. O juiz pode autorizar a operação independentemente de anuência dos credores, e a decisão judicial que autoriza o financiamento não poderá ser revista posteriormente de forma a alterar a sua natureza ou as garantias pactuadas. O marco regulatório brasileiro passou a admitir garantias fiduciárias, alienação de bens de terceiros, participação de sócios e empresas do grupo como financiadores e até a criação de garantias subordinadas em excesso de valor. O modelo, apelidado de DIP-Juiz, transfere ao magistrado a responsabilidade de verificar os benefícios do financiamento, sua compatibilidade com os objetivos do plano de recuperação e a proteção ao conjunto dos credores.
No entanto, o Brasil ainda não adota o conceito de priming lien, ou seja, não autoriza a constituição de garantias DIP que superem os direitos de credores com garantias anteriores sobre o mesmo ativo. Isso limita a atratividade do mecanismo, sobretudo em contextos em que os ativos disponíveis da empresa já estão comprometidos por garantias fiduciárias ou hipotecárias. Essa limitação jurídica estrutural, somada a barreiras regulatórias relevantes, como as normas prudenciais do sistema bancário, ajuda a explicar por que a adesão ao DIP no Brasil ainda é tímida quando comparada a jurisdições como os Estados Unidos.
Do ponto de vista econômico, as instituições financeiras enfrentam custos de capital elevados para conceder crédito a empresas em recuperação. A Resolução CMN 2.682/99 exige provisionamento de até 100% do valor do crédito, classificando essas operações nos piores níveis de risco. Mesmo com a esperada entrada em vigor da Resolução CMN 4.966/21, que adapta o Brasil ao modelo do IFRS 9 (Expected Credit Loss), o efeito de contaminação do rating da empresa durante o período de stay period continuará representando um entrave. Todos os créditos, ainda que novos e performados, são impactados pelo histórico da empresa, o que eleva artificialmente o risco percebido.
Além das barreiras normativas, a realidade institucional e comportamental dos agentes envolvidos exerce papel central. Juízes, credores e administradores judiciais muitas vezes demonstram resistência à inovação. Vieses comportamentais, como o apego ao status quo e a aversão à perda, contribuem para a rejeição ou judicialização de propostas de DIP mesmo quando bem estruturadas. O emblemático caso OAS, em que um financiamento DIP de R$ 800 milhões foi abandonado pela Brookfield após oposição de credores e insegurança quanto à manutenção de sua preferência, evidencia essa dinâmica.
A falta de previsibilidade e a ausência de cultura favorável ao financiamento em situações especiais de risco ainda bloqueiam o desenvolvimento de um verdadeiro mercado de DIP no país. No entanto, os sinais de amadurecimento começam a surgir. A recuperação judicial do Grupo Moreno, viabilizada por dois financiamentos DIP que permitiram o pagamento antecipado de credores, e o caso da Renova, onde o DIP possibilitou a conclusão de um parque eólico e a geração de receitas sustentáveis, mostram que o mecanismo pode funcionar quando há estrutura jurídica clara e financiamento adequado. A Americanas obteve mais de R$ 2 bilhões em aportes DIP de seus próprios acionistas, reforçando a liquidez e viabilizando a reorganização. A Oi, por sua vez, utilizou ações da V. Tal como garantia para levantar USD 275 milhões, com autorização judicial baseada na nova legislação.
Esses exemplos mostram que, quando estruturado com inteligência financeira e segurança jurídica, o DIP pode ser o divisor de águas entre a falência e a recuperação efetiva. Ainda assim, sua consolidação como ferramenta recorrente exige mais do que leis escritas. É necessário promover um ambiente institucional mais acolhedor, com juízes capacitados, decisões previsíveis, agentes financeiros preparados e incentivos regulatórios adequados.
A Análise Econômica do Direito nos ajuda a enxergar que a eficiência do DIP depende de regras que reduzam os custos de transação, melhorem a alocação de riscos e ampliem a confiança entre os participantes. Já a teoria comportamental revela que muitas decisões jurídicas e financeiras são tomadas com racionalidade limitada, sob influência de medos, vieses e pressões contextuais. Combater essas barreiras exige desenho institucional inteligente, clareza normativa e reforço na formação de profissionais especializados.
O financiamento DIP não é apenas um dispositivo legal: é um mecanismo de coordenação de expectativas, onde capital novo é injetado com a expectativa de retorno em um cenário incerto. Para que esse pacto funcione, todos os agentes – juízes, credores, investidores e empresas – precisam operar sob regras claras, economicamente racionais e comportamentalmente conscientes. O sucesso do DIP Financing no Brasil dependerá, portanto, não apenas da lei escrita, mas de sua interpretação eficaz, de sua aplicação pragmática e da capacidade dos operadores do direito de compreender que, em momentos de crise, o tempo e a confiança valem tanto quanto a norma.