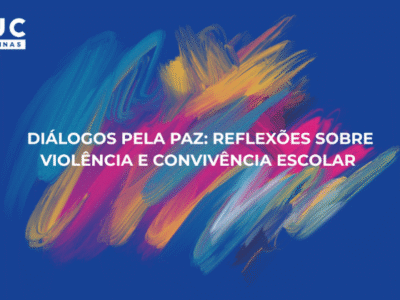Last but not least: mais dez senões do processo estrutural
Por Eduardo José da Fonseca Costa*
À Dr. Geovana Faza da Silveira Fernandes
Em 16 de junho de 2021, publiquei artigo apontando dez conjuntos de problemas metodológico-conceituais que, na minha modesta opinião, inquinam a «teoria do processo estrutural»» (<https://emporiododireito.com.br/leitura/abdpro-181-dez-senoes-do-processo-estrutural>). Após anos de reflexão, publiquei no dia 10 de março de 2025 um segundo artigo apontando outros dez blocos de problemas da mesma natureza (<https://juridicamente.info/mais-dez-senoes-do-processo-estrutural/>). Todavia, não pude aguardar mais quatro anos para produzir um terceiro artigo, haja vista que o projeto de lei sobre o processo estrutural teve o seu trâmite legislativo acelerado. Por essa razão, senti-me impelido a apressar a elaboração do presente escrito. Ressalte-se: apressei o escrito, não as meditações que dele constam. De certo modo, elas já estavam amadurecidas dentro de mim, conquanto lhes faltasse algum refinamento. Talvez a «força das circunstâncias» tenha se encarregado de catalisar a energia que em mim faltava para trazê-las à luz e dispô-las em um texto. Ele obedece à mesma lógica dos anteriores: justaponho novos blocos de problemas metodológico-conceituais de que sofre a «teoria» estruturalista. Ao todo, são agora trinta «senões». Creio ter concluído, destarte, a minha reunião de críticas básicas à doutrina estruturalista. Doravante, elas serão pontuais e esparsas, se bem que contínuas: é inexaurível um tema tão complexo, que entretêm relações numerosas e diversificadas com outros ramos científicos jurídico-dogmáticos (direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro etc.), jurídico-zetéticos (sociologia jurídica, teoria geral do direito, filosofia do direito etc.) e não jurídicos (ciência política, gestão de políticas públicas, ética geral etc.).
Uma coisa é certa: não é tema para processualista com formação estrita e tradicional em dogmática processual. Sempre fiz questão de frisar que todos esses «senões» que tenho levantado não depreciam a autoridade acadêmica dos seus defensores. Processualistas de respeito têm cantado em prosa e verso os benefícios que a reestruturabilidade judicial de instituições e políticas públicas pode trazer ao Brasil. Contudo, o canto é regido por uma fé cega, não pela razão, e mesmo uma mente brilhante pode ser tomada de assalto pelas artimanhas de uma paixão intelectual (que RAYMOND ARON não me deixe mentir). Eles não conseguem examinar os defeitos da própria doutrina que professam e, porventura, saná-los, porquanto acreditam no «processo estrutural» (mesmo quando alguns poucos reconhecem esses defeitos, dão-lhes de ombros, pois entendem que a nobreza dos fins coletivos justifica a penúria dos meios teóricos). Eis a palavra-chave: acreditam. Em face desse estado de superstição, seria sobre-humano se fossem capazes de um minimum de autoexame epistemológico. Em vista disso, esses processualistas cultuam uma «religião secular», animada por um ativismo judicial essencial e fundada em uma concepção mais uma menos sistemática, que mistura valores político-ideológicos com categorias jurídico-dogmáticas divorciadas do direito positivo brasileiro vigente. Ora, esse «mais ou menos» é a fonte primordial dos problemas metodológico-conceituais do estruturalismo, que fazem dele uma coleção semiorganizada de fórmulas operacionais para a intromissão judiciária – indevida e, às vezes, desajeitada – nos domínios político-governamentais. Em decorrência disso, nem mesmo se pode dizer que essa doutrina seja uma «fé raciocinada». É uma doutrina em sentido não jurídico, ou seja, uma soma de crenças que se obstinam em confiar em dogmas. Fiel ao seu caráter confessional, a sociedade dos estruturalistas prossegue impávida, arrebanhando adeptos ingênuos, ignorando as censuras que lhe são dirigidas e reservando ao povo brasileiro o «Paraíso da Judiciocracia». É uma espécie de integrismo com sinal trocado, uma indisposição espiritual que, pretendendo manter a acesa a flama estruturalista, reluta em aceitar discordâncias «conservadoras» e em imprimir um pouco mais de sobriedade e prudência aos seus impulsos «progressistas».
Em primeiro lugar, a doutrina do «processo estrutural» precisa definir o seu estatuto epistemológico. Afinal, ela é uma dogmática ou uma pragmática? 1) Quase sempre, um estruturalista se comporta como se estivesse descrevendo uma fatia temática do sistema de direito positivo brasileiro atual vigente e, a partir daí, fixando-lhe os pontos de compreensão mediante a construção de um repertório analítico composto de definições, conceituações, classificações, explicações, sistematizações, distinções e divisões. Em suma, age como se fizesse uma dogmática jurídica. Contudo, a justificação desse agir tem sido problemática, pois não vige no ordenamento jurídico nacional qualquer regra sobre a reestruturação judicial de instituições e políticas públicas. Nem a Constituição nem a lei contêm dispositivos sobre aspectos capitais do «processo estrutural», como a competência judiciária, as partes legítimas e o procedimento em juízo. O «processo estrutural» é objeto dos discursos doutrinário e jurisprudencial, mas passa ao largo do discurso normativo. Até que uma emenda constitucional e uma lei ordinária sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, o «processo estrutural» é um instituto jurídico in fieri e, por conseguinte, um modelo de iure condendo. É bem verdade que a ala cúpida dos estruturalistas tem invocado princípios para justificar a sua doutrina enquanto um modelo de iure condito; porém, já não se pode mais levar a sério quem os invoca para abracadabras. O uso excessivo de princípios tem se transformado num clichê, que denota desonestidade intelectual, desconhecimento jurídico-cientifico e/ou desprovimento mental. Em síntese, perdeu toda a graça (sobre a não normatividade dos princípios, v. nosso Princípio não é norma. Belo Horizonte: Letramento, 2024).
2) Por isso, uma ala mais recatada dos estruturalistas, cônscia de que princípios não são normas ou de que não lhes cabe um emprego abusivo, têm se apegado à constatação de que «o processo estrutural já é uma realidade», «já existe na prática», «tem sido aplicado pelos tribunais mesmo sem legislação específica». Á míngua de argumentos dogmáticos, eles se valem de uma argumentação pragmática ou quase-sociológica. Sem embargo, é uma pragmática ad hoc, improvisada, retórica, sem devido acabamento metodológico-conceitual. Uma pragmática compreensiva ou descritiva que se pretenda autêntica deve tomar o «processo estrutural» tal qual uma experiência vivida na rotina do foro. Ao jurista pragmático compete: i) constituir a maior base amostral de precedentes sobre restruturação judicial de instituições e políticas públicas dentro de um determinado espaço-tempo; ii) identificar os invariantes que definem o jeito de os juízes praticarem a reestruturação nos diferentes casos práticos; iii) categorizar esses invariantes dentro de um corpus lógico-sistemático; iv) a partir desse corpus, orientar a comunidade forense a agir em casos concretos similares futuros. Nesse sentido, uma pragmática do «processo estrutural» não parte de regras sobre reestruturação judicial (mesmo porque elas não existem), mas de comportamentos judiciais reestruturadores, tal como orientados por elas. Não é um conhecimento organizado sobre law in books, mas sobre law in action (sobre a pragmática descritiva ou compreensiva, v. nosso Uma arqueologia das ciências dogmáticas do processo. RBDPro 61, p. 31-36). Por conseguinte, para dizerem com o dedo em riste que o «processo estrutural» é válido na teoria porque vigora na prática, os estruturalistas precisam antes desincumbir-se de algumas tarefas empírico-investigativas ainda pendentes. Por enquanto, não sendo um modelo dogmático nem pragmático, a doutrina do «processo estrutural» é tão somente uma proposta de lege ferenda (embora devesse antes ser uma proposta de constitutione ferenda). É inegável que essa proposta tem despertado maciça atenção. A despeito disso, ela é uma mera moção.
Em segundo lugar, à falta de um genuíno discurso dogmático, os estruturalistas têm reforçado o argumento pragmático com um argumento utilitarista. De acordo com eles, o «processo estrutural» é teoricamente válido porque «produz resultados bons», «beneficia todos», «gera bem-estar coletivo», «faz o bem por empatia», «satisfaz por altruísmo expectativas supraindividuais». Percebe-se, assim, um apelo consequencialista, que costuma levar a ferro e fogo o artigo 20 da LINDB («Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão»). Vale assinalar que, na verdade, os «bons resultados» são atribuíveis mais às técnicas de solução consensual do que à doutrina do «processo estrutural» per se: se o réu resiste ao cumprimento voluntário das medidas estruturantes, o charme delas se esvai em multas e ameaças de sanção penal, que pouco ou nada resolvem. Seja como for, tendo em vista o caráter autopromocional da doutrina do «processo estrutural», que tão apenas apresenta aos leitores experiências bem-sucedidas de reestruturação, ignora-se por completo o seu real perfil performático. Desconhece-se a proporção entre os resultados «bons», «médios» e «ruins». Aliás, é improvável que o «processo estrutural» seja um maquinismo de experiências a toda hora ótimas, visto que opera sob condições reais complexas e não lineares, as quais tendem a apresentar embaraços imprevistos ou imprevisíveis. Logo, é temerário escorar a validade teórica do estruturalismo em sua suposta successfulness.
Além disso, a ética utilitarista com base em que a doutrina do «processo estrutural» tenta legitimar-se leva a resultados que, em não raras vezes, violam cláusulas constitucionais como a separação dos Poderes, que exerce papel vital no estabelecimento de um poder estatal limitado, moderado e vocacionado para respeitar os direitos fundamentais e realizar o interesse geral. Todavia, conforme o cálculo utilitário dos estruturalistas, para se atingir uma finalidade coletiva, não seria errado o magistrado invadir os domínios legislativo-governamentais, pois o «bem-estar da coletividade» supera os inconvenientes de um juiz usurpador, gerando um saldo positivo. Em outras palavras, levando em consideração todos os interesses em jogo, os estruturalistas entendem que as restrições à separação de poderes seriam compensadas pela promoção da finalidade coletiva. Em suma, os benefícios superariam os ônus. Ademais, esse cálculo faz o leitor acreditar que o certo é a alocação de todos os recursos orçamentários possíveis para se maximizar a política pública sub judice, ignorando todas as demais políticas públicas que também deles precisam. Desse modo, embora o utilitarismo estruturalista possa parecer bem intencionado e produzir frutos desejáveis em muitos casos, leva também a consequências inaceitáveis. Ao fim e ao cabo, o processo estrutural» faz trocar um «estado inconstitucional de coisas» [= violação sistemática e generalizada de um direito fundamental) por um outro «estado inconstitucional de coisas» [= violação sistemática e generalizada da separação de poderes], sem que seja plausível afirmar qual deles é pior, já que não existe hierarquia entre regras constitucionais (violadas). Por fim, a fundamentação do «processo estrutural» na sua suposta capacidade de promover o «bem coletivo» ou coisa que o valha enseja aos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário a possibilidade de uma distorção habilidosa do que seja esse «bem» com o intuito de se justificarem intenções nada elevadas. Atrás da «relativização consuetudinária» da separação de poderes, podem esconder-se – e, não raro, se escondem – propósitos inconfessos que passam ao largo de qualquer altruísmo. Um desses propósitos escusos pode ser o uso arbitrário das máquinas ministerial e judiciária para a perseguição oblíqua de adversários políticos.
Em terceiro lugar, os estruturalistas precisam expor todos os seus verdadeiros pressupostos filosóficos e apresentar nos preâmbulos dos seus livros a teoria que defendem a respeito da realidade social. Sem essa explicitação honesta e sincera, o público leitor será privado de conhecer o pensamento social de que se deriva a doutrina do «processo estrutural», bem como o seu real caráter epistemológico. Ora, a força motriz da reestruturação judicial de instituições e políticas públicas é a ideia de realidade social como um construto: todos os aspectos dela (conceitos, crenças, valores, princípios, normas, instituições etc.) seriam constituídos pelos membros da sociedade mediante interações contínuas espontâneas, comportando-se tal qual simples modeladores passivos, sem consciência do produto resultante dessa teia interacional. Sugere-se que a realidade social não seria propriamente determinada, mas moldada. No entanto, esse tipo de construcionismo social compreende, igualmente, a ideia consectária de que remodeladores ativos podem se utilizar conscientemente de meios técnicos para uma reconstituição planejada de todos os aspectos da realidade. No final das contas, a realidade teria uma estrutura plástica, dúctil, reformável, sem se romper. Nesse sentido, ela não seria um dado de pureza «externa» e «objetiva»: nalguma proporção, seria co-constituída, quando não omni-constituída, pelos atores sociais. Daí por que códigos binários como belo/feio, justo/injusto, lícito/ilícito, sagrado/profano, conveniente/inconveniente, útil/inútil, homem/mulher, racional/irracional e bem/mal não passariam de «acordos», «ficções», «consensos», «convenções», «pactos», que não correspondem necessariamente a uma verdade universal, mas propiciam coesão, garantindo ações conjuntas. Não obstante, esses códigos podem ser continuamente debatidos e redefinidos mediante trocas de narrativas, que alteram a percepção dos membros da sociedade, recriando-lhes o mundo ao redor. Mais: é possível que essa reinterpretação se dirija ao próprio passado, reconfigurando eventos históricos sob uma nova perspectiva (quase sempre alinhada à historiografia marxista).
Dessa forma, tendo em vista que a realidade social não possui características inerentes ou inatas e só se pode compreender dentro de contextos, tudo seria (re)modelável pelo Estado (que é a própria sociedade organizada politicamente), desde que ele logre calcular os meios corretos para a formulação estratégica das políticas públicas adequadas. Descrente da existência de valores sociais permanentes e intangíveis, o construtor social maneja sem hesitação a máquina governamental para desconstruir «ideias preconcebidas», «verdades aceitas», «estruturas discriminatórias» e «crenças arraigadas» como padrões estéticos, raça, etnia, divisão social, nacionalidade, religião, casamento, feminilidade, masculinidade, educação e linguagem, ainda que para a maioria esmagadora da população esses «construtos sociais» representem valores permanentes e intangíveis. Daí por que o construtor social é sempre um déspota, que se esquece de que a ideia mesma de «construto social» pode também ser um construto e, assim, um produto com prazo curto de validade (sobre o construcionismo social, e. g.: BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2014; GERGEN, Kenneth J. e GERGEN, Mary. Construcionismo social: um convite ao diálogo. Rio de Janeiro: Editora Noos, 2010). Em todo o caso, é dentro desse cenário que o conceito de políticas públicas se torna axial para a vanguarda progressista juristocrática e, junto a elas, o conceito de «processo estrutural», que convoca os juízes para serem remodeladores ativos da realidade social. Nessa esteira, os juízes se depararão com o desafio de reengendrar conceitos, crenças, valores, princípios, normas e instituições que tecem a tapeçaria da realidade social. Muitas vezes, esses «construtos» desagradarão os engenheiros sociais, mas serão muito valiosos ao homem do povo. E então se notará que a realidade não é assim tão dúctil. Como bem diz ROBERTO MANGABEIRA UNGER quando se refere às medidas judiciais estruturantes, «uma coisa é invocar os espíritos e outra é que eles venham» (What should legal analysis become?. Londres, Nova Iorque: Verso, 1996, p. 119).
Em quarto lugar, devem-se definir de maneira mais clara os limites da coerção na execução forçada de medidas estruturantes. Lembre-se que, de ordinário, a reestruturação judicial de instituições e políticas enseja uma execução de obrigação de fazer. Logo, para forçar o ente demandado a desempenhar condutas específicas [specific performance], o juiz dispõe de um rol aberto de mecanismos de pressão e sub-rogação. Para assegurar o cumprimento das suas ordens, o magistrado pode «determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias» [CPC, art. 139, IV]. De mais a mais, «no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer», o juiz pode «determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, se necessário, requisitar o auxílio de força policial» [CPC, art. 536, § 1º] (d. n.). Vê-se que o sistema de direito positivo brasileiro vigente confere ao juiz uma capacidade discricional ampla para definir as medidas atípicas de efetivação dos seus próprios comandos. Isso mostra que, em matéria de execução de obrigação de fazer, o CPC se inspira em um princípio de ordenação discricionária e viola, desse modo, a cláusula constitucional do devido processo legal, da lei, pormenorizado em todas as suas etapas pela lei, que aqui se compreende como o texto normativo, novidadeiro, geral e abstrato editado por representantes legislativos eleitos pelo povo [CF, art. 5º, LIV]. Mesmo que assim não seja, a execução coercitiva de obrigações de fazer que implique restruturação judicial de política pública se insere num contexto repleto de particularidades. Afinal, via de regra, o ente acionado se sujeita a regime de direito público e, portanto, está submetido a múltiplas travas administrativas, financeiras e contábeis, que o impedem de cumprir ordem judicial simpliciter et de plano dentro de prazos unilaterais. De qualquer forma, é indispensável saber quais medidas coercitivas se poderão infligir ao ente público demandado se acaso resistir à ordem judicial de reestruturação.
A questão é vital, sobretudo porque a experiência jurisprudencial norte-americana das structural injunctions é caracterizada por um forte quantum despótico, que amiúde se revela incompatível com o contexto jurídico brasileiro. Ante a impossibilidade financeira de o ente federativo acionado cumprir a medida estruturante, houve juiz federal nos EUA que lhe ordenou o aumento da respectiva carga tributária; entretanto, no Brasil, essa ordem arbitrária iria de encontro aos postulados basilares do pacto federativo e do federalismo fiscal, dentre eles a autonomia tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Outrossim, é inconcebível que, mesmo sendo-lhe financeiramente factível cumprir a medida estruturante, o ente público recalcitrante sofra uma intervenção temporária por gestor ou cogestor nomeado pelo juiz, aos moldes da intervenção cautelar em empresa nas disputas societárias (ação de dissolução de sociedade, dissolução parcial de sociedade, ação de responsabilidade civil de administrador etc.), ou aos moldes da intervenção judicial na empresa como instrumento de execução das decisões do CADE [Lei 12.529/2011, artigos 96 e 102 a 111]: ferem-se a separação de poderes [CF/1988, art. 2º, c. c. art. 60, § 4º, III], as hipóteses excepcionais de intervenção federal e estadual [CF/1988, artigos 34 a 36], bem como a soberania popular [CF/1988, art. 1º, parágrafo único], que não consente com a gestão política por quem não haja sido eleito. Pois que multa e ameaça de sanção penal são coerções fracas para forçar o cumprimento de ordens judiciais de reestruturação, os juristas do «processo estrututal» devem ser bastante engenhosos na esquematização de coerções fortes, uma vez que o ente público acionado nem sempre será cooperativo. Por ora, a execução forçada de medidas judiciais estruturantes tem sido um fracasso estrondoso, retumbante, monumental.
Em quinto lugar, os estruturalistas precisam esclarecer o caminho para se vencer a eventual resistência do Poder Legislativo à edição de lei necessária para a reestruturação de uma política pública. Não raro, tal reestruturação implica a necessidade de criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração, o que depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo [CF, art. 60, § 1º, II, a]. Isso é bastante comum, v. g., no alargamento de políticas de saúde, educação, cultura, esporte e segurança pública. Basta imaginar-se a necessidade de ampliação de recursos humanos que está compreendida na construção de novos hospitais, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, pré-escolas, escolas, universidades, creches, bibliotecas, museus, centros culturais, arenas, estádios, ginásios, quadras, campos, centros esportivos, complexos esportivos, recintos, parques esportivos, parques públicos, clubes, pistas, delegacias de polícia civil e federal, unidades de polícia militar, bombeiro militar, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal etc. Á vista disso, a prevalência do interesse administrativo tem feito com que o ente federativo seja representado em juízo pelo Poder Executivo, posto que a reestruturação judicial da política em causa dependa do concurso da vontade legislativa.
Entretanto, se o projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo é rejeitado, o juiz pode tomar alguma providência contra o Poder Legislativo? É possível contra casas legislativas ou mesmo contra parlamentares a inflicção de meios de pressão (astreintes, multa por ato atentatória à dignidade da justiça, ameaça de sanção penal por prática de crime de desobediência, etc.)? Ante o exposto, a defesa tanto das prerrogativas político-funcionais dos parlamentares quanto da autonomia e da independência legislativas pode ser patrocinada pelo próprio órgão de representação judicial do Poder Legislativo [ex.: Advocacia do Senado Federal, Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, Procuradorias de Assembleias Legislativas e Procuradorias de Câmaras Municipais]? Na reestruturação judicial de políticas públicas que dependam da vontade parlamentar, o Poder Legislativo não deveria integrar o polo passivo da demanda desde o início para responder em nome próprio? Nessa situação, a casa legislativa possui personalidade jurídica de direito processual («capacidade processual»)? Deveria haver um litisconsórcio passivo necessário entre os Poderes Executivo e Legislativo, cada um patrocinado pelo seu respectivo órgão de representação judicial? De alguma maneira, pode o Poder Executivo responder pelas recalcitrâncias do Poder Legislativo? Não se trata de responsabilidade objetiva indevida por fato de terceiro? O que se poderá fazer se não se obtiver a maioria absoluta dos membros do Parlamento para se repropor o projeto de lei na mesma sessão legislativa [CF/1988, art. 67]? Por intermédio de tutela jurisdicional sub-rogatória, a ausência da «lei dos parlamentares» é suprível por uma «lei do juiz»? Um juiz tem legitimidade democrática para esse tipo de sub-rogação? Não se está diante, com efeito, de um caso de cumprimento irrealizável, sem culpa do ente público, cuja obrigação se deve resolver em perdas e danos [CPC, artigos 499, 816 parágrafo único e 821 parágrafo único]? Deve-se reverter o produto da indenização ao fundo de que trata a Lei 7.347/1985? Se não, então a que outro fundo? O problema fica ainda mais complicado quando, mesmo após a lei ser aprovada, os processos seletivos, as licitações e as contratações são impugnados e, em não raras vezes, suspensos pelos tribunais de contas ou pelo próprio Poder Judiciário na presença de indícios de irregularidades. Aqui, o processo judicial de reestruturação da política pública deve ficar sobrestado até que se resolva a «questão prejudicial externa»? A suspensão deve fazer-se sine die ou, por analogia, deve obedecer ao prazo estabelecido no art. 313, IV, a, do CPC/2015?
Em sexto lugar, os estruturalistas precisam balizar de maneira mais precisa o grau de aprofundamento das reformas estruturais que lhe servem de mote. Se a violação sistemática e generalizada de um direito fundamental for um problema com várias camadas estruturais, desde a mais superficial até a mais profunda, até qual delas o juiz poderá chegar? O juiz pode desdenhar das estruturas superficiais e mobilizar os seus melhores esforços para a alteração das estruturas profundas? Quais os limites verticais da investigação etiológica e, assim, da ingerência judiciária? Enfim, quais são os limites do aprofundamento intervencionista? O juiz pode ir más allá da camada estrutural apontada pelo acionante até chegar onde lhe pareça ser o epicentro do problema? Essa definição talvez seja «o» problema da teoria e da prática das medidas judiciais estruturantes. A questão tem incomensurável importância prática, em especial quando se trata da reestruturação judicial de instituições.
Tome-se o exemplo da interferência judicial em uma unidade prisional (penitenciária, cadeia pública, colônia agrícola ou industrial, centro de progressão penitenciária ou casa do albergado) que viole de maneira sistemática e generalizada um direito específico dos presos. Não é difícil supor que a violação sistemática por um presídio isoladamente considerado decorra de um sistema prisional globalmente violador. Por isso, é bastante provável que o problema da unidade prisional escolhida pelo autor da demanda estrutural se replique ipsis litteris em outras unidades prisionais, as quais, conquanto preteridas, estão abrangidas pelo mesmo Estado-membro. Assim sendo, deve-se perguntar por que o autor se restringiu à superfície, não se insurgindo contra a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, responsável por todas essas unidades. Afinal de contas, retrocedendo-se na cadeia causal, é razoável atacar-se antes a raiz do problema, não os seus ramos. Nada obstante, não é difícil imaginar que esse tipo de violação não ocorra em um só Estado da Federação, mas em todos, mostrando-se um problema nacional. Destarte, deve-se também perguntar por que então o órgão-alvo não foi a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), à qual compete controlar e acompanhar a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional. No limite extremo do exemplo dado, a investigação empírico-causal pode chegar ao Ministério da Justiça, quando não à própria Presidência da República, em uma reductio ad infinitum que torna complicado saber em que órgão público se deve parar. Trata-se de um transtorno heurístico que caracteriza toda e qualquer análise retrospectiva a respeito de sequências causais lineares que se irradiam desde um órgão central até os seus órgãos mais periféricos.
Esse transtorno pode apresentar-se, por exemplo, na reestruturação judicial de entidades públicas relacionadas a saúde, ensino, cultura, esporte e segurança pública, que de ordinário se organizam dentro de um eixo centro-periferia. Igualmente, pode apresentar-se, por exemplo, na reestruturação judiciária de empresas de baixa patente que integram grupos econômicos hierarquizados com alto nível de estratificação: basta pensar-se em uma política distorcida de compliance ambiental imposta interna corporis a todas as empresas de um gigantesco aglomerado, desde as grandes até as pequenas, desde as centrais até as periféricas, que provoque em cada uma delas, de forma homogênea, sistemática e generalizada, operações degradantes ao ambiente. Nesse caso, faz sentido circunscrever-se a uma delas? Em um limite extremo, pode chegar-se ao controlador, ainda que se trate de acionista individual ou grupo de acionistas individuais, todos eles pessoas físicas? Esse tipo de indeterminismo heurístico pode dar margem a escolhas arbitrárias pelo autor da ação estrutural, permitindo-lhe eximir o causador primário e acossar causadores secundários. Abrem-se as portas para que critérios vis (a miúdo, político-ideológicos) orientem a desresponsabilização de correligionários e a responsabilização de antagonistas.
Em sétimo lugar, uma prática republicana da reestruturação judicial de instituições ainda depende do desenvolvimento de métodos de análise organizacional. É por meio deles que serão localizados os problemas estruturais internos cuja desfuncionalidade provoca a violação sistemática e generalizada de um direito fundamental e serão concebidas as estruturas alternativas de solução. Enfim, um controle objetivo-racional sobre processos de reestruturação de instituições só é viável mediante métodos intersubjetivamente compartilháveis, que permitam: 1) identificar unidades, normas, relações, procedimentos e culturas internos cuja inadequação ocasiona a violação sistemática e generalizada de um direito [= abordagem retrospectiva-constatativa]; 2) construir um plano de ação instrumental que – mediante adição, alteração e/ou supressão de unidades, normas, culturas, relações e procedimentos interna corporis – seja capaz de apurar o desempenho global da instituição em relação ao direito violado [= abordagem prospectiva-performativa]. Tome-se o exemplo de uma empresa industrial cuja produção seja poluente, tendo sido detectado que ela não tem um departamento ambiental, não dispõe de um compliance ambiental bem definido, adquire insumos determinantes para um produto final agressivo ao entorno e o seu processo fabril obedece a preceitos defasadas de usinagem, que são desaconselháveis a um ambiente ecologicamente equilibrado; nessa hipótese, é imaginável um plano que obrigue a empresa, de maneira isolada ou cumulativa, a criar um departamento ambiental, instituir uma política interna de cumprimento diligente da legislação ambiental, treinar os seus empregados nessa política, substituir os seus velhos insumos por similares menos contaminantes e retificar os seus processos de fabricação (obs.: nas macroorganizações, com organogramas complexos e lógicas de funcionamento sofisticadas, nem sempre é fácil identificar as inadequações e construir planos de ação interventiva).
Verifica-se estar implicada nesse tipo de análise uma investigação etiológica, que detecta na configuração organizacional «A» a causa adequada, idônea e provável de um problema estrutural, na configuração organizacional «B» a melhor solução para o problema e no plano de ação «x» o trajeto mais eficiente que conduz de «A» a «B». Todavia, a análise precisa levar em consideração se a reengenharia institucional proposta pode acarretar efeitos colaterais indesejados [ex.: impossibilidade ou dificuldade de continuação da instituição intervinda, violação sistemática e generalizada de outros direitos, aumento irrazoável dos custos, impraticabilidade das novas regras regimentais, morosidade nos processos internos, perda de eficiência no desempenho da atividade-fim, sobrecarga desproporcional de trabalho para setores específicos, queda no nível de qualidade dos produtos e serviços, impossibilidade ou dificuldade de expansão e crescimento, perda de participação no mercado]. Daí por que em toda reforma institucional está compreendido um cálculo cuidadoso entre as vantagens e as desvantagens corretivas. Tudo isso revela que a doutrina do «processo estrutural» sofre de um enorme déficit de empiricidade e precisa com urgência de uma pragmática acional ou propositiva, isto é, de um saber tecnológico preocupado com métodos de a) diagnose etiológica de distúrbios estruturais, b) modelagem estratégica de soluções ótimas e c) implementação de reformas institucionais nas diversas situações quotidianas (sobre a pragmática propositiva ou acional, v. nosso Uma arqueologia…, p. 36-41). Sem esse aporte, a reestruturação de instituições corre o sério risco de se tornar uma práxis forense acientífica, afoita, arbitrária, assistemática, casuística, desparametrizada, improvisada, imperita, intuitiva, irresponsável, temerária, vulgar (mormente em reestruturações não negociadas, adjudicadas, impostas de cima para baixo). Visto que os processualistas se apoderaram das structural injunctions, agora precisam equacionar todos os seus aspectos. Não vale a desculpa de só terem educação processual.
Em oitavo lugar, a doutrina precisa explicar se o «processo estrutural» é direcionável contra os seus próprios protagonistas: o Poder Judiciário e o Ministério Público. É indubitável que tanto um quanto o outro editam políticas públicas. Trata-se de políticas públicas como outras quaisquer, que se constituem de ações coordenadas para a solução de problemas e se desenvolvem por intermédio de ciclos que compreendem processos contínuos de planejamento, monitoramento, avaliação e redesenho para a consecução de objetivos estabelecidos. No que concerne às políticas judiciárias, trata-se de conjuntos de ações e diretrizes que, em geral, visam ao aprimoramento do acesso à justiça e dos métodos de resolução de conflitos. Nesse sentido, buscam promover, v. g., a redução da litigiosidade, a autocomposição, a capacitação de mediadores e conciliadores, a disseminação da cultura de pacificação, o acesso à justiça para agrupamentos isolados de minorias (quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas etc.), o combate à litigância predatória, o aumento de produtividade e agilidade dos órgãos jurisdicionais, a melhoria das gestões orçamentário-financeira e administrativo-judiciária, o upgrade do gerenciamento de acervos, o aperfeiçoamento e a formação de juízes, a consolidação do modelo de precedentes obrigatórios, o fortalecimento da segurança institucional, o fortalecimento da proteção de dados. No âmbito da Justiça Federal, e. g., há as políticas nacionais gerais editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as políticas nacionais específicas editadas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e as políticas regionais editadas por cada um dos Tribunais Regionais Federais (TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5 e TRF6). Outrossim, no âmbito da Justiça do Trabalho, e. g., há as políticas nacionais gerais editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as políticas nacionais específicas editadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), bem como as políticas regionais editadas por cada um dos vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho.
No entanto, é possível in thesi que qualquer um desses programas estratégicos contenha em si alguma impropriedade material ou formal, que o impeça de concretizar qualquer um dos intuitos supramencionados. Mais: é possível que a inadequação não esteja na política pública per se, mas na organização e no funcionamento dos órgãos judiciários de natureza administrativa ou jurisdicional que a executam. Em face desses casos, indaga-se: é cabível a reestruturação judicial de políticas judiciárias nacionais e regionais de maneira isolada ou global? Com a finalidade de cessar a frustração sistemática e generalizada de direitos fundamentais como acesso à justiça, celeridade processual e tutela jurisdicional adequada, cabe «processo estrutural» para: a) a redefinição dos critérios de distribuição de acervo processual e, em consequência, a equalização da carga de trabalho entre todos os juízes; b) a redefinição da divisão espacial entre tribunais regionais, seções e subseções judiciárias; c) a redefinição da quantidade de juízes e serventuários da justiça por comarca e vara judicial; d) a redefinição da quantidade de desembargadores e assessores por turma julgadora; e) a redefinição das varas e turmas julgadoras especializadas; f) a redefinição das metas de produtividade; g) o incremento da capacitação de conciliadores e mediadores; h) a ampliação do uso de inteligência artificial na elaboração de resoluções judiciais (decisões, despachos e sentenças). Sublinhe-se que o Ministério Público sói ajuizar ações estruturais semelhantes, embora relativas a órgãos do Poder Executivo. Sem embargo, por que não ações desse jaez que concirnam a órgãos do Poder Judiciário (quando não do Ministério Público mesmo)? A serpente de Ouroboros não pode morder a sua própria cauda? Se por razões corporativas ou por medo de represália o Ministério Público não ajuizar ação para a reestruturação judicial de instituição ou política judiciária ou ministerial, há quem possa fazê-lo subsidiariamente?
Em nono lugar, é crucial justificar melhor por que o «processo estrutural» seria imune aos imperativos da segurança jurídica e, portanto, à estabilização das suas decisões de mérito. Lembre-se, em termos esquemáticos, que coisa julgada material = indiscutibilidade externa = declaração sobre a (in)existência da pretensão de direito material objeto do litígio + indiscutibilidade interna (coisa julgada formal) (cf., p. ex., PONTES DE MIRANDA. Tratado das ações. t. I. 2. ed. São Paulo: RT, 1972, p. 182). Na coisa julgada formal, veda-se que a causa seja rediscutida no mesmo processo; na coisa julgada material, noutros processos (cf. idem. Comentários ao Código de Processo Civil. t. V. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 144). Seja como for, no «processo estrutural», a res in iudicium deducta padece de uma dissociabilidade objetiva interna. a) De um lado, está a pretensão a que seja diminuída a distância entre um «estado ideal de coisas» e um «estado real de coisas» [= «pretensão a um fim»]; b) de outro lado, está a pretensão a um modo específico de reestruturação de uma instituição ou política pública [= «pretensão a um meio»]. Daí por que fica a dúvida: o que faz coisa julgada material? (a) A declaração de mérito sobre a «pretensão a um fim» ou (b) a declaração de mérito sobre o compósito «pretensão a um fim + pretensão a um meio»? (obs.: nenhuma dessas pretensões é efeito da incidência de regra jurídica de direito positivo vigente hoje no Brasil, visto que que a reestruturação judicial de instituições e políticas públicas não tem previsão constitucional nem legal). Se a resposta for (a), poder-se-á adotar na execução de sentença tantos meios de reestruturação quantos sejam necessários até se eliminar o abismo entre a idealidade e a realidade. Se o plano de reestruturação A não funciona, o autor pode pedir que se mude para o plano B; se o plano B não funciona, para o plano C; se o plano C não funciona, para o plano D (obs.: para cada plano aventado se abrirá um novo incidente na execução). No limite, ter-se-á uma sequência quase interminável de experimentações até se alcançar by trial and error o resultado prático esperado, malgrado o enorme dispêndio inútil de tempo, energia e recursos para o empreendimento dos planos frustrados.
Se a resposta for (b), porém, poder-se-á adotar na execução da sentença somente o meio de reestruturação proposto na petição inicial e debatido pelas partes ao longo da fase de conhecimento. Se o plano A não funciona, o autor pode pedir que se migre para o plano B, mas somente mediante o ajuizamento de uma nova ação; nessa situação, haverá no segundo processo discussão apenas sobre a «pretensão ao meio», pois a «pretensão ao fim» já terá se tornado indiscutível por força do primeiro. Como não poderia deixar de ser, os estruturalistas defendem a resposta (a), pois ela se sintoniza com um paradigma instrumentalista, institui a primazia do autor sobre o réu e, dessa forma, afronta garantias fundamentais. É um grave atentado contra os imperativos da segurança jurídica e contra a necessidade de estabilização das sentenças de mérito [CF/1988, art. 5º, caput e XXXVI]. Diz-se amiúde ser inviável adiantar elementos que permitam já na petição inicial deduzir-se a «pretensão a um meio» e formular-se um pedido delimitado. Mas isso é uma verdade parcial. Não raro, os pedidos são genéricos porque os inquéritos civis são mal instruídos. Fazem-se várias vezes de afogadilho. Ainda que assim não seja, a solução pode estar na instituição de um procedimento bifásico com formação de coisas julgadas progressivas: na primeira etapa, discutir-se-ia sobre a «pretensão ao fim» [generatio libelli]; na segunda, sobre a «pretensão ao meio» [specificatio libelli]. Em ambas as fases, haveria de se assegurarem o contraditório, a ampla defesa e uma cognição exauriente, sem prejuízo de acaso se outorgarem tutelas sumárias (posto que seja de bom alvitre não se conceder inaudita altera parte). Tudo isso pode ajudar o autor da ação estrutural que não disponha de inquérito civil, ou complementar o inquérito civil não-, sub– ou pseudo-instruído.
Em décimo lugar, os estruturalistas precisam aperfeiçoar mecanismos para impedir que o «processo estrutural» seja vulgarizado numa prática ampla, geral, irrestrita e corriqueira. Se assim não for, haverá o sério risco de que os governantes se acomodem e, como sequela, os juízes e os promotores se exasperem. A prática diária da reestruturação judicial de instituições e políticas governamentais não pode desincentivar a Administração Pública a enfrentar problemas inadiáveis, demitindo-se das suas funções essenciais e transferindo-as a quem jamais recebeu um único voto popular. Noutras palavras, não se pode acostumar mal os governos a agirem apenas por provocação judicial e se reduzirem a simples «secretários executivos» da vontade de juízes e tribunais. Uma judicialização excessiva de políticas públicas gera o risco de se relegar ao Poder Judiciário a resolução dos problemas mais complexos, que exijam gasto considerável de energia, tempo e recursos, sobrando aos governos somente as questões mais simples, cuja solução se restrinja a um único mandato, baixo comprometimento orçamentário, poucos exercícios financeiros, planejamento básico e mobilização administrativa discreta. Dessa maneira, uma prática obstinada de «processo estrutural» pode causar um efeito backfire, induzindo justamente as omissões governamentais que visa combater. Outro risco de efeito colateral indesejado é relegar aos tribunais as políticas públicas impopulares, embora necessárias e benéficas, que não sejam implantadas pelos governantes. Elas parecem ser prima facie um alvo natural do «processo estrutural», uma vez que tendem ao limbo, à irrealização, ao esquecimento. Todavia, corre-se o risco de se estimular entre governante e promotor a celebração de um acordo nada republicano: o promotor propõe a demanda coletiva reestruturante e, com ela, o governante ganha a desculpa de que tanto precisava perante o eleitor para implementar a política pública malquista.
De qualquer modo, uma experiência judiciária radicalizada de «processo estrutural» pode instituir ipso facto uma divisão extravagante de competências entre os governantes e os magistrados, deixando-se aos primeiros as políticas públicas ordinárias e aos segundos as extraordinárias. Sem embargo, mesmo que o governante se circunscreva a uma gestão mais prosaica, o juiz sempre poderá ter ingerência sobre as políticas ordinárias e redefinir dentre elas as prioridades, não raro frustrando promessas de campanha que foram determinantes para a eleição e, assim, erodindo a autonomia político-governamental. Como se isso não bastasse, há o risco de que entre o promotor e os governantes se instaure um «ritual de beija-mão»: para se prevenirem contra inquéritos civis, ações civis públicas e ações de improbidade administrativa, os governantes suplicarão do promotor o aval prévio das políticas públicas de que cogitam. Isso pode conferir ao promotor o poder fático de apor sanção ou veto aos planos locais de governo, bem como exigir modificações para que sejam chancelados, distorcendo-se completamente o papel do Ministério Público no controle externo de políticas públicas. Ora, tendo em vista que o «processo estrutural» já existe na prática em alguma medida, em alguma medida todos os inconvenientes supramencionados também já existem na prática, sobretudo em municípios pequenos, que são a presença mais constante no polo passivo das demandas reestruturantes. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de médio e grande porte possuem maior capacidade de resistência a eventuais abusos ministeriais; logo, nessas entidades federativas, o controle externo de políticas públicas tem menor potencial arbitrário. Em contrapartida, nos pequenos municípios, o «processo estrutural» revela a sua face mais sombria. É por causa deles, em particular, que a doutrina estruturalista precisa refinar-se em termos mais comedidos. «Prefeitar» é um verbo de ação com sujeito ativo próprio. Quem pode praticá-lo são apenas os eleitos, não os concursados.
Pôde-se ver ao longo desses três artigos sobre «senões» que a reestruturação judicial de instituições e políticas públicas – resumida na expressão «processo estrutural» – é uma ideia espinhosa, complexa, polêmica e multidisciplinar de teorização e operacionalização problemáticas. A sua teorização é discutível porque não vige no sistema de direito positivo brasileiro atual qualquer regra jurídica sobre o tema. A sua operacionalização é intrincada porque exige uma mobilização de saberes nos quais nem juízes nem promotores possuem formação. Não sem motivo, o estruturalismo é uma doutrina in fieri, que está a anos-luz de um acabamento final, porquanto ainda precisa responder a inúmeras perguntas. Existem várias pendências metodológico-conceituais irresolutas e irresolúveis que esta série de artigos procurou mostrar. Não obstante, já há autores que se sentem à vontade para publicar e ministrar «cursos de processo estrutural», como se fosse crível um estudo sistematizado, quando não esquematizado, com o propósito de didatizar um assunto por ora movediço e, por conseguinte, sem postulados firmes. Quiçá um dia essa firmeza se estabeleça. Ademais, malgrado se trate de tema que movimenta ramos jurídico-dogmáticos, jurídico-zetéticos e não jurídicos, alunos de graduação e pós-graduação lato sensu estão sendo estimulados à produção de TCCs e monografias. É gente de boa-fé, mas ainda sem preparo, doutrinando para um ativismo judicial despreparado, tendo em vista que a composição, a organização e o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro obedecem ainda a padrões tradicionais, que não se coadunam com a lógica material das medidas judiciais estruturantes. Tampouco se harmoniza com essa lógica o ensino do direito e, em consequência, o cabedal dos juízes de carreira, que se concentra em uma expertise mais técnica que política, mais vinculativa que discricional, mais mecânica que criativa, mais lógica que retórica, mais rígida que flexível, mais atada que livre, mais retrospectiva que prospectiva, mais formalista que materialista, mais nomológica que teleológica, mais subsuntiva que sobresuntiva, mais executiva que reflexiva, mais dogmática que pragmática, mais monológica que dialógica, mais unicista que complexista, mais unilateral que integrativa, mais unidisciplinar que pluridisciplinar, mais burocrática que deliberativa, mais reativa que proativa, mais aristocrática que democrática, mais conservadora que reformista, mais adjudicatória que negociadora, mais impositiva que conciliatória, mais subordinativa que coordenativa.
Percebe-se que a validade da doutrina do «processo estrutural» depende de uma realidade que ainda não existe: a) uma regra constitucional que adeque a reestruturação de instituições e políticas públicas ao concerto das funções precípuas do Estado; b) um órgão público reestruturador com capacidade institucional adequada; c) um agente reestruturador com legitimidade democrática e formação técnica adequadas; d) um procedimento adequado previsto em lei; e) um pensamento jurídico-operacional adequado. Por enquanto, o que acena no horizonte é apenas uma lei procedimental, a qual, à míngua de regra constitucional que a fundamente, já nascerá inválida (conquanto já se saiba que o STF a referendará in causa sua com incontida euforia). Sozinha, a lei será uma empresa simbólica para trazer «um pouco de ordem às coisas» e legitimar o ilegitimável. Ela servirá aos estruturalistas para que não sejam mais acusados de tomarem como modelo de lege lata um modelo de lege ferenda (como se o problema se cingisse a isso). Enfim, ela será um verniz. Seja como for, não estão preenchidas todas as condições formativas para uma autêntica e genuína reestruturação de instituições e políticas. Em decorrência disso, é provável que irrompa no Brasil um modo teratológico de «processo estrutural»: disforme, desajeitado, estranho, pesado, astuto, despótico…
*Juiz Federal em Ribeirão Preto/SP. Bacharel pela USP. Especialista, Mestre e Doutor pela PUC-SP. Ex-Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual (triênio 2016-2018). Diretor da Revista Brasileira de Direito Processual. Membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual