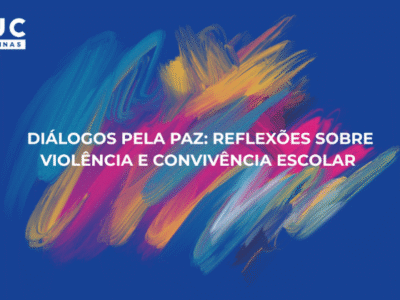Judiciário na Encruzilhada: Entre a Função Constitucional e a Captura Política
Por Lúcio Delfino*
A oportuna reflexão proposta pelo jurista espanhol Juan A. García Amado, publicada na rede social X, ao denunciar uma “dialética diabólica”,[1] evidencia uma problemática de escala transnacional: a instrumentalização do direito e a politização das cortes superiores. O núcleo da questão reside no abandono da legalidade e no uso de princípios como ferramentas de manipulação, dando ensejo a um ciclo vicioso em que o poder político captura o Judiciário e o Judiciário subverte a política.
A ideia de “dialética diabólica” revela-se particularmente precisa para descrever o cenário no qual cortes superiores, abastecidas de doutrinas jurídico-filosóficas que favorecem a plasticidade interpretativa, invadem o espaço reservado à política, enquanto atores políticos, por sua vez, arquitetam nomeações judiciais como mecanismo de controle. A partir dessa dinâmica, o direito se desestabiliza, torna-se dúctil, refém de leituras oportunistas que o afastam de sua vocação normativa perene. Conceitos fluidos, como o de dignidade da pessoa humana ou justiça social, passam a fundamentar decisões que extrapolam o texto legal e constitucional.
Entre os brasileiros, tal fenômeno manifesta-se de forma emblemática na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF (ainda que obviamente não restrito a ela), em situações nas quais princípios foram trabalhados com tamanha flexibilidade que os desfechos alcançados assumiram inequívocas feições de atos legiferantes. Um marco disso é a decisão que impôs a obrigatoriedade de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, incluindo a manutenção de um fundo climático, assim como aquela que equiparou a homofobia ao crime de racismo, ambas resultantes de “hermenêuticas” que expandiram as prerrogativas do Judiciário em detrimento de competências exclusivas do Legislativo. Esses casos expõem os perigos inerentes a um direito positivo esvaziado de densidade, exposto ao vilipêndio por subjetivismos, em que as fronteiras entre interpretar e legislar se tornam desgraçadamente nebulosas e permeáveis.
Já no que concerne ao fenômeno da politização das cortes superiores, seu recrudescimento revela-se mais acentuado em regimes cujos mecanismos de freios e contrapesos mostram-se debilitados. Ilustra essa conjuntura as recentes nomeações para o STF, oriundas de indicações tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Jair Bolsonaro, as quais deram ensejo a severas críticas acerca da independência dos nomeados. A designação de Cristiano Zanin, cuja proximidade pessoal com Lula é notória, e de Flávio Dino, celebrado como “o primeiro comunista” a integrar a Corte, suscitam questionamentos sobre a imparcialidade indispensável ao exercício da jurisdição no mais alto tribunal do país. De modo análogo, as nomeações de Kassio Nunes Marques, visto como uma deferência ao Centrão, e de André Mendonça, guindado ao cargo sob a égide do epíteto “terrivelmente evangélico”, estão longe de merecer qualquer louvor. Tais episódios evidenciam que, a despeito da orientação governamental — seja à direita, seja à esquerda —, o processo de escolha dos ministros do STF tende a refletir conveniências políticas, em detrimento de parâmetros estritamente meritocráticos.
Essa realidade encontra ressonância em contextos globais, nos quais o Judiciário também é alvo de apropriação e deliberada captura política, pouco importando o perfil partidário do governo. Na Bolívia, sob o governo de Evo Morales, de viés socialista, o Tribunal Constitucional foi subordinado aos interesses do Executivo para permitir sua candidatura a um quarto mandato, contrariando a vontade popular expressa em referendo. De maneira semelhante, na Hungria, sob o governo de Viktor Orbán, líder conservador de direita, reformas estruturais centralizaram o poder e facultaram a nomeação de juízes alinhados ao Executivo, comprometendo a independência dos órgãos judiciais e distanciando o país dos fundamentos democráticos. E há, outrossim, os EUA, onde o ato de nomeação para a Suprema Corte reflete uma crescente polarização, com magistrados escolhidos em razão de suas inclinações políticas.
Convém aqui uma digressão: o modelo norte-americano, ainda que imbuído de disputas ideológicas, contempla audiências de confirmação no Senado, caracterizadas por um rigor formal que permite maior escrutínio das indicações. No Brasil, porém, a ausência de mecanismos similares agrava a situação – ou alguém crê que a sabatina realizada por senadores não passa de um espetáculo teatral sem substância? Logo, a escolha de juízes para a mais alta corte brasileira permanece subordinada por completo à vontade unilateral do presidente da República (e dos grupos por ele representados), em prejuízo da transparência e da confiança da sociedade.
Ambos os fenômenos — a instrumentalização do direito e a politização das cortes —, intrinsecamente interligados e reciprocamente alimentados, não apenas comprometem a independência do Judiciário, mas corroem os próprios alicerces do Estado de Direito. Com efeito, quando os tribunais se distanciam da rigorosa observância da lei para embasar decisões em princípios, instauram um panorama de incerteza em que os cidadãos veem suas garantias fundamentais sujeitas a contínua erosão – por todos, conferir: FONSECA COSTA, Eduardo José. Princípio não é norma. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2024. Hans Kelsen (injustamente acusado por alguns de ter sido cúmplice do Nazismo) alertava para os riscos de se introduzirem valores morais na interpretação da norma jurídica. Para ele, o direito deve ser um corpo normativo autônomo, cuja aplicação se dá de forma objetiva e previsível. Todavia, o declínio do positivismo jurídico propiciou um ambiente no qual o direito se tornou suscetível à domesticação, levada a efeito por magistrados e agentes políticos — reitere-se: com a assídua chancela de setores da doutrina — que modulam as normas segundo critérios valorativos e ou concepções particularistas. Essa aplicação indiscriminada de princípios em detrimento de normas claras abre caminho para o colapso da estrutura jurídico-normativa. No Brasil, isso se reflete, por exemplo, na judicialização de políticas públicas, como na medida tomada pelo STF que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, desconsiderando os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelas forças de segurança em áreas vulneráveis.
Circunscrevendo-se ao Judiciário brasileiro, a recuperação de sua legitimidade e da confiança popular impõe um labor titânico de resgate dos seus pilares essenciais. Em primeiro lugar, é indispensável a imposição de critérios técnicos rigorosos que blindem o processo de seleção de magistrados contra a perniciosa influência do Executivo, assegurando a autonomia das cortes de justiça. Por outro lado, torna-se imperiosa a reimposição, mediante contundente hipertrofia e proteção legislativa, da (cláusula pétrea da) separação de poderes. Do contrário, não será possível assegurar que decisões sejam tomadas com irrepreensível e republicana observância à textualidade legal e em rigorosa submissão à garantia fundamental da imparcialidade judicial. Tais reformas, ao menos em tese, representariam um caminho institucionalmente viável para a salvaguarda da integridade do ordenamento jurídico e reverter o enormíssimo déficit democrático que contamina a atuação jurisdicional.
Contudo, uma análise mais detida da tessitura jurídica e política contemporânea impõe um ceticismo inevitável quanto à viabilidade concreta de tais medidas. Acreditar que um incremento normativo, por si só, bastaria para erradicar um problema que se enraizou nas entranhas do sistema equivale a um idealismo pueril, destituído de qualquer ancoragem na realidade sociopolítica vigente. A atmosfera hodierna, marcada por investidas incessantes contra o Estado de Direito, não sinaliza uma restauração da estabilidade institucional, mas sim a agudização de uma lógica que solapa, de maneira irremediável, os últimos diques de contenção ao arbítrio. À luz desse quadro, o direito, apartado sua função primordial de ordenação racional da vida social, permanece como uma bússola quebrada, erraticamente conformado às injunções e volições dos detentores da força política, reduzido a mero apanágio de interesses alheios ao verdadeiro sentimento da nação.
Notas e Referências:
*Advogado. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Diretor da Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual – ABDPro.
[1] “Una dialéctica diabólica. Los tribunales constitucionales y las cortes más altas descubrieron que podían usurpar la política manejando a su antojo el Derecho, con la ayuda de doctrinas iusfilosóficas que venían a ser como un cripotiusnaturalismo sin Dios, pero con amo. Pero luego el poder político captó que podía usurpar el poder judicial a base de politizar a los jueces y elevar a los más altos tribunales a esos magistrados que presentan una sorprendente síntesis de ignorancia y desenvoltura, lacayos dispuestos a pagar cualquier precio a sus mentores políticos a cambio de una importancia social que nunca habrían tenido por sus méritos objetivos o por sus capacidades reales. Y la situación es la que vemos, seguramente irreversible ya: sistemas jurídicos liberados de la legalidad y la constitucionalidad cierta, a fin de que los poderes políticos queden exentos del control judicial y los ciudadanos sean privados de las más elementales garantías. Y más de cuatro morirán jurando que la culpa fue del iuspositivismo. Irredentos obcecados.”