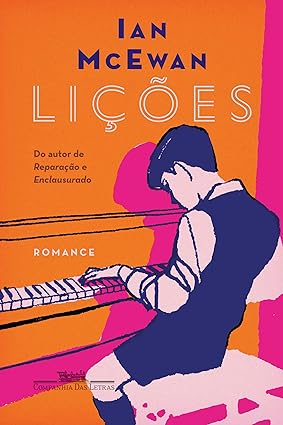Os mandarins
Os mandarins
Simone de Beauvoir (trad. Hélio Souza)
Nova Fronteira, 736 páginas
O que fazer com a vida quando a Guerra termina? Essa é a pergunta entrevista nas primeiras páginas (e que vai alinhavar todas as vozes) do romance vencedor do Gouncourt de 1954, a obra-prima de uma das pensadoras mais influentes do Século XX.
Dividida em dois eixos principais, a história é contada sobretudo pelas perspectivas de Henri e Anne, em torno dos quais gravitam dezenas de outras personagens, mais ou menos relevantes: Nadine, Robert, Paule, Lambert, Scriassine, Samazalle, Lewis…
Com Henri, jornalista e escritor, Beauvoir problematiza o papel da política, dos jogos de poder e da arte na reconstrução de uma França que, embora vencedora na Segunda Guerra Mundial, tem de lidar com uma série de contradições e fantasmas que a guerra evidenciou. O movimento narrativo, nesse caso, se projeta para fora, para a estrutura na qual o indivíduo está inserido e o seu papel como agente de transformação.
A partir de Anne, o eixo narrativo ganha contornos substancialmente distintos: problematizando o papel atribuído à mulher, Beauvoir constrói uma personagem a um só tempo austera e delicada, para quem a descoberta de um amor maduro é capaz de colocar em xeque certezas até então inabaláveis. Aqui, a narrativa percorre o caminho inverso, focando no indivíduo não como parte integrante de uma estrutura, mas como uma complexidade em si mesma, nas quais desejos e frustrações vivem em permanente embate.
“Os Mandarins” é um belo e extenso romance, no qual Beauvoir expõe os infortúnios, as contradições e os acertos de uma sociedade que, embora fragilizada, encontra alternativas para viver a esperança de tempos melhores.
“– Quando a gente diz: ‘As coisas são más’, ou como eu, no ano passado: ‘Tudo é mau’, é que a gente pensa, calmamente, num bem absoluto (…) A gente não o percebe, mas é preciso uma singular arrogância para colocar os sonhos acima de tudo. Se fôssemos modestos, compreenderíamos que existe, de um lado, a realidade, de outro, nada. Não conheço erro pior do que preferir o vazio ao pleno.” (p. 701)