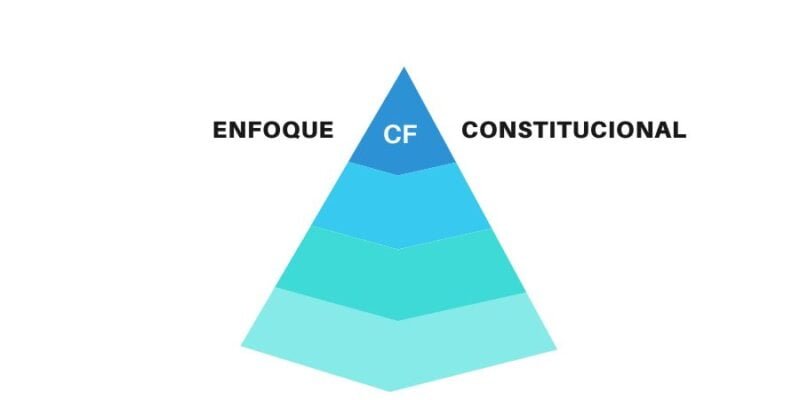Julgar ou Legislar. Outro critério.
Por José Luiz Delgado*
Ao tomar certas decisões (descriminalizar o porte de maconha, restabelecer o imposto sindical, rejeitar o marco temporal, autorizar aborto, entre tantas outras), o Supremo Tribunal Federal está verdadeiramente julgando ou está de fato legislando?
Venho propor agora um segundo critério, a se acrescentar ao que propus anteriormente (a saber, toda vez que o julgador fizer uma escolha entre opções aparentemente razoáveis está de fato legislando – https://juridicamente.info/julgar-ou-legislar-um-criterio/). O segundo critério diz respeito a uma das tendências mais terríveis de certas correntes do Direito brasileiro atual, aquilo que chamo de principiologia. Que é, no fundo, a pretensão de reduzir a Constituição a um conjunto de “princípios”, a partir dos quais as normas seriam não somente interpretadas, mas efetivamente avaliadas, até para o efeito de declarar inconstitucionais normas da Constituição, bem entendido, inconstitucionais diante dos tais princípios.
É claro que a distinção entre princípios e normas é uma grande conquista doutrinária: o reconhecimento de que, entre as normas, umas há que são mais do que meras normas, são princípios, dos quais muitas normas derivam ou dependem. Os princípios são fundamentais para elucidar eventuais conflitos normativos, para definir certos vácuos legislativos, e assim por diante.
Se são excelentes, os princípios são também perigosíssimos, porque, se considerados sem as normas, podem dar margem a deles se extrairem ou se deduzirem (de fato, se quererem extrair ou quererem deduzir) consequências as mais diversas e as mais profundas, segundo a imaginação da cabecinha de cada intérprete.
A grande regra que deveria ser adotada é que os princípios não podem ser interpretados contra ou sem as normas, e que, ao contrário, eles estão contidos nas normas, devem ser entendidos tal como as normas os exprimem. Os princípios se expressam pelas normas, revelam-se nas normas, realizam-se nas normas, existem nos termos das normas. Não têm existência à parte, de tal sorte que princípios e normas fossem coisas distintas, estanques e separadas, passando-se então a avaliar as últimas pelos primeiros, para chegar ao cúmulo de declarar inconstitucionais (diante dos “princípios”) normas explicitamente incluídas na Constituição.
Exemplo doloroso é o do princípio da dignidade da pessoa humana. É claro que é um grande, essencialíssimo princípio. Não só é um dos fundamentos da República (art 1º, III, da Constituição). É, evidentemente, princípio fundamental. É viga basilar da Constituição. E não só isso, não só da Constituição brasileira: é uma das bases mais primordiais da democracia. Da democracia e da civilização. Da civilização e do humanismo.
Como todos os princípios, porém, tem ele de ser entendido e aplicado com base nas leis, ou nos termos das leis, sobretudo das normas constitucionais, não com base nas concepções particulares de cada um, segundo as fantasias individuais do intérprete. Não esqueço um aluno que me procurou para orientar a sua dissertação de final de curso, em que queria afirmar a inconstitucionalidade da aposentadoria compulsória (que é regra constitucional), em face justamente do princípio da dignidade da pessoa humana. Entendia ele que a aposentadoria compulsória lesava a dignidade da pessoa humana. Bem entendido: conforme ele concebia essa dignidade, ou esse princípio. É nisso que dá meter-se a interpretar os princípios à margem ou à revelia, em completa preterição das normas em que eles se exprimem e que os contêm.
Agora mesmo querem aplicar o princípio essencial da dignidade da pessoa humana para justificar a legalização do aborto. Estão considerando, é claro, só a pessoa humana da gestante, e desprezando a pessoa humana do feto. O que fazem, no fundo, é ignorar ou deixar de lado a questão fundamental aí em causa, que é a de definir o que o feto é. Qual a natureza do feto? Tem ele natureza humana ou não tem? O que dizem sobre a natureza do feto os defensores do direito ao aborto ? Que ele é uma lagartixa, um ratinho, um sub-homem? Do essencial princípio da dignidade da pessoa humana extraem, assim, conclusões segundo suas imaginações individuais, à total revelia das normas.
Ora, o conteúdo dos princípios há de ser dado pelas leis, não pelas imaginações particulares do aplicador. Há de resultar dos termos das leis, do conjunto das leis. É segundo os termos das leis que os princípios são importantíssimos, não segundo os delírios individuais desse ou daquele iluminado.
Este, o segundo critério que venho propor: se o que a decisão judicial faz é dar conteúdo a um princípio, trata-se de fato de ato de legislador, não de juiz.
Toda decisão judicial que se basear apenas em um princípio (e não num princípio e também em normas que o exprimem), não é decisão judicial verdadeira porque é, substancialmente, legislação. É o juiz se fazendo de legislador, invadindo, usurpando competência de outro poder. Julgar é somente decisão fundada em normas, ou em princípios e normas, mas jamais apenas em princípios. Decisão que se baseia exclusivamente em princípios (sem normas) não é julgamento: é legislação.
*
Julgar ou Legislar? Um critério.
Por José Luiz Delgado*
O STF tem sido acusado de invadir e apossar-se de atribuições que, a rigor, seriam dos outros Poderes, do Executivo ou do Legislativo. São mais de dezenas os casos em que o STF, dizendo interpretar a Constituição, de fato legisla, substituindo-se ao Congresso Nacional, que está virando um poder quase inútil.
Como distinguir o que seria propriamente “legislar” do que seria apenas “interpretar” o texto constitucional para decidir o caso concreto que lhe é submetido?
O STF já surpreendeu o Brasil pretendendo dar lições de lógica. Além de querer definir o que é verdadeiro e o que é falso, fazendo-se de absurdo Tribunal da Verdade, ministros do Supremo ousaram pretender ensinar lógica, dizendo aos cidadãos como devem pensar. Foi quando acharam de reconhecer que determinadas premissas seriam verdadeiras, mas delas estariam sendo deduzidas conclusões falsas… Fizeram-se assim mestres do silogismo, para dizer como e por que certas conclusões, e não outras, é que deveriam derivar daquelas premissas… Não é só o reino do absurdo. É sobretudo o reino da prepotência e do totalitarismo.
Mestre de lógica, o STF não está sabendo, no entanto, distinguir os dois papéis, o que é julgar e o que é legislar, a fim de se conter nos limites de sua atribuição específica, que não é a de órgão legislador, mas julgador.
Venho trazer uma pequena contribuição.
É provável que outros critérios possam ser adicionados, mas proponho aqui um que me parece bom ponto de partida para elucidar a questão e ajudar a precisar o que é propriamente “legislar”, a fim de que o STF não avance em competências que são, a rigor, de outro Poder.
Trata-se de compreender que a lei positiva é, sempre e fundamentalmente, uma escolha, uma opção entre várias alternativas possíveis razoáveis. Tome-se o exemplo singelo da maioridade. Por que definir a maioridade aos 18 anos? Por que não aos 19, aos 20? Ou aos 16, ou aos 21? Nenhuma diferença – nem fisiológica nem psicológica – há entre o jovem de 17 anos, 11 meses e 29 dias, e o jovem do dia seguinte, quando completará 18 anos. O que o legislador faz, portanto, ao definir a maioridade, é uma escolha, uma determinação entre opções razoáveis, isto é, entre opções que poderiam igualmente, quase indiferentemente, ser aceitas.
(Entendendo que é socialmente vantajoso definir a maioridade, isto é, uma data a partir da qual o indivíduo deve ser considerado como plenamente responsável por seus atos, diferentemente de outro período, em que, dado o ainda insuficientemente amadurecimento, o indivíduo não deve ser responsabilizado, o legislador exclui obviamente certas situações. É evidente que não é razoável definir a maioridade já aos 3 anos de idade, nem tampouco só aos 50… Essas situações são evidentes por si mesmas. Mas não é evidente por si mesma a diferença entre 16, 18 ou 21 anos. Então, a definição por uma destas datas ou por outra é apenas resultado de uma escolha, de uma decisão da vontade do legislador.)
Também, muitas vezes, administrar, função do Poder Executivo, é uma escolha: desapropriar este ou aquele imóvel? construir uma estrada por aqui ou por ali? usar asfalto ou concreto? comprar tal ou qual equipamento? reforçar o orçamento da saúde ou da educação? E assim por diante.
As razões da escolha podem ser variadas. Muitas vezes, haverá que seguir – tanto o legislador quanto o administrador – o sentimento popular. Em muitos casos haverá também motivações técnicas. Mas em muitíssimas situações, a decisão final entre a opção A ou a opção B será simplesmente uma escolha da vontade daqueles a quem a população conferiu o poder de atuar e decidir em seu nome. A quem deu a representação. O ato do legislador, como o do executivo, com a liberdade de opções que ele contém, resulta da representação popular.
Ora, o juiz não tem essa representação. Não pode, portanto, fazer escolhas. Julgar não é uma escolha. É um sim ou um não. É apenas um ato intelectual de conhecimento. A vontade não deve ter nenhuma participação aí. É propriamente o reconhecimento de que a lei autoriza a fazer algo ou que impede que faça. É apenas a declaração de que o indivíduo em questão pode fazer isso ou que não pode fazer aquilo. Ou, no mínimo, a declaração de que a determinação concreta de certo assunto depende da legislação, deve esperar então pela decisão do legislador, e não se metendo a legislar no lugar do representante eleito.
Decidir quantas gramas de maconha o usuário pode levar consigo ou quantos pés pode plantar em casa, são evidentemente apenas escolhas. Pode ser 25 gramas. Mas por que não 30? Ou por que não 15? etc. Donde, isso é obviamente legislar. Uma coisa é apenas dizer se o indivíduo tem ou não tem (nos termos da lei, não segundo a criativa mente individual do juiz) direito de consumir e de portar maconha. Outra, é definir qual quantidade de maconha pode o indivíduo portar ou conduzir. Se a decisão judicial pretende chegar a isso decisão judicial verdadeira não é, porque de fato o que está fazendo é legislar.
E assim por diante.
E é isso a que lamentavelmente estamos assistindo hoje em muitas decisões do STF.
Para que o Supremo possa legitimamente legislar é preciso previsão constitucional expressa. Como acontece na hipótese do mandado de injunção, segundo certa concepção do mandado de injunção. Fora dessas situações, toda vez que, na decisão judicial, aparecer uma escolha, trata-se de fato de legislação, e, portanto, invasão da competência de outro Poder.
* Professor aposentado de Direito Constitucional e de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE. jslzdelgado@gmail.com