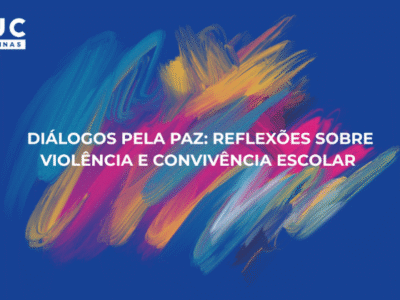A presença que ausenta: sobre a estética da imparcialidade do árbitro
Por Alberto Jonathas Maia
Dizia-se, na Roma Antiga, que a esposa de César não apenas devia ser honesta — devia também parecer honesta. A máxima, que imortalizou a renúncia de Pompeia por mero rumor de impropriedade, não era sobre moral privada, mas sobre a estética pública da confiança. Não bastava a inocência substantiva; exigia-se a aparência incontestável da integridade. Esse princípio, rude e sofisticado ao mesmo tempo, antecede em séculos qualquer teoria da imparcialidade judicial — e ainda hoje constrange os julgadores, especialmente na arbitragem, onde o silêncio do árbitro, o modo como escuta, intervém ou se movimenta, diz tanto quanto sua sentença. A imparcialidade não se impõe apenas por declaração, mas por presença — ou, melhor, por sua disciplinada ausência.
Em ‘Os quinze inimigos da imparcialidade’, Eduardo José da Fonseca Costa desnuda os múltiplos vetores que sabotam a imparcialidade decisória: o narcisismo judicial, a moralidade seletiva, a ideologia disfarçada de técnica, o cansaço, a pressa, a vaidade e, sobretudo, a ausência de vigilância interna. Esses inimigos não habitam apenas os tribunais togados — transitam, com elegância silenciosa, pelas salas de audiência no processo arbitral. O árbitro, quando naturaliza a própria autoridade, quando se esquece de que o processo é garantia (CF, art. 5, LIV, LV. Lei 9.307/96, art. 21§2º), quando julga antes de escutar, torna-se réu de um vício não declarado. A arbitragem, apesar de contratual, é também jurisdição — e toda jurisdição, para ser legítima, precisa ser desconfiada de si mesma. A imparcialidade não é presunção benevolente, é arquitetura de contenção.
A imparcialidade do árbitro não se limita à ausência de interesse. É uma construção estética, um esforço de apagamento, uma coreografia invisível de contenções. O árbitro imparcial não é aquele que apenas decide bem — é aquele que sabe não aparecer. Em um ambiente onde prestígio, reputação e autoridade orbitam os nomes escolhidos, o maior desafio não é evitar o favoritismo explícito, mas a inclinação silenciosa que habita o gesto, o olhar, o ritmo da escuta.
A Lei de Arbitragem fala em “dúvida justificada”, mas cala sobre a estética da imparcialidade. Regulamentos institucionais coletam listas de disclosure, cláusulas de independência, prazos para objeções. Tudo isso importa — mas não basta. Porque a imparcialidade não reside na declaração, mas na percepção. Um árbitro que formalmente preenche todos os requisitos pode, ainda assim, parecer – mesmo não sendo – cúmplice de uma das partes.
A estética da imparcialidade é a arte da presença ausente. Trata-se de ocupar a cadeira sem se impor, de dirigir a audiência sem dominá-la, de decidir sem parecer inclinado. Não há norma para isso. Há sensibilidade. Há consciência do próprio lugar. Um árbitro imparcial é aquele que sabe ser fundo distante — não moldura. E, no entanto, quantas vezes se vê o contrário: árbitros que brilham mais que as partes, que determinam provas que não foram requeridas, que falam mais que os advogados, que decidem como quem performa?
A arbitragem é, por natureza, espaço de performance. O cenário é escolhido, o painel é designado, o processo é moldado para ser mais técnico, mais enxuto, mais funcional. Mas essa eficiência aparente carrega o risco da estetização do poder. Quando o árbitro confunde segurança com autoridade, expertise com autossuficiência, a imparcialidade se dissolve no culto à própria competência. O árbitro se torna parte do espetáculo — e não do processo.
A incompletude normativa da LArb e do CPC permite esse vazio. Não há regra sobre tom de voz, sobre simetria nas intervenções, sobre a igualdade estética no trato das partes. E é justamente aí que florescem os vieses: não no descumprimento da lei, mas no uso performativo da imparcialidade. É possível parecer ponderado enquanto se é tendencioso, demonstrar tecnicalidade para esconder preferências, usar da elegância para dissimular partidarismo.
Imparcialidade estética não é empatia. É contenção. Supõe recusa ao gesto afirmativo, ao excesso de explicação, ao comentário fora de hora. A imparcialidade estética não pede um árbitro frio — pede um árbitro disciplinado e discreto (LArb, Art. 13§ 6 º). Porque arbitrar não é conduzir um processo; é desaparecer dentro dele. A autoridade do árbitro vem do seu apagamento voluntário, da sua capacidade de ser canal e não voz.
No processo judicial, os arts. 144 e 145 do CPC criam uma moldura objetiva de impedimentos e suspeições. O juiz não pode julgar o processo em que foi advogado, sócio, herdeiro, credor, inimigo ou beneficiário direto da parte. São categorias rígidas, taxativas, de baixa complexidade interpretativa. A premissa subjacente é que, identificado o vínculo jurídico ou afetivo, o juízo se contamina de nulidade. Mas na arbitragem, o conflito raramente se apresenta em forma pura. Ele se insinua, se camufla, se dispersa em redes profissionais, ciclos acadêmicos, nomeações recorrentes e afinidades eletivas.
As Diretrizes da IBA sobre Conflitos de Interesses em Arbitragem Internacional (IBA Guidelines)[1], nesse aspecto, avançam na sofisticação: substituem a rigidez do “sim ou não” pelo critério do terceiro razoável, introduzem graus de revelação (listas vermelha, laranja e verde) e incorporam a aparência – como fator central. A amizade próxima com mandatário da parte, a repetição sistemática de nomeações por um mesmo escritório, a participação em conferências com um expert relevante para o caso — tudo isso pode não ser ilegal, mas é esteticamente perturbador. E a imparcialidade, na arbitragem, é mais frequentemente abalada pela estética do vínculo do que pela substância do interesse.
Veja-se, por exemplo, a ausência de regra no CPC que trate da recorrência de nomeações. No processo judicial, tal hipótese seria de certo modo impraticável – vide as demandas volumosas e repetitivas. Mas na arbitragem, o árbitro indicado cinco vezes pelo mesmo escritório nos últimos dois anos não precisa ter vínculo econômico com a parte para levantar dúvida justificável. A parcialidade aqui não é contratual, mas contextual. O árbitro pode ter as melhores intenções do mundo, ser competente, honesto, tecnicamente impecável — e ainda assim parecer comprometido. E esse parecer é o que abala a confiança.
Um árbitro indicado por uma companhia aberta atua, simultaneamente, como parecerista em matéria empresarial para associação setorial da qual essa mesma empresa é membro influente. Não há relação contratual direta entre o árbitro e a parte — mas o contexto revela proximidade funcional, sobreposição de agendas e afinidade interpretativa. O CPC ignoraria esse cenário. As Guidelines, não. Elas exigem que o árbitro revele, mesmo sem impedimento legal, qualquer circunstância que possa, aos olhos das partes, sugerir perda de equidistância.
Outro caso: o árbitro mantém vínculo acadêmico com advogado da parte — são coautores frequentes, compartilham mesa em seminários e lecionam juntos em curso de pós-graduação. Não são sócios, não partilham lucros, não trocam favores processuais. Mas compartilham ideias, visões, métodos. Aqui, a imparcialidade é minada não por interesse, mas por identidade intelectual. O árbitro pode resistir à influência — mas as partes confiarão que ele o fará? A estética da imparcialidade depende menos do que se sente e mais do que se projeta.
Imagine-se um árbitro nomeado por instituição arbitral que, pouco antes da constituição do tribunal, participou de reunião fechada com uma das partes, ainda que em outro contexto, para discutir perspectivas de políticas públicas sobre concessões — justamente o objeto do litígio. O encontro foi acadêmico, não decisório. Mas o que importa, aqui, não é a finalidade da reunião, e sim a ambiência: houve troca de impressões, exposição de expectativas, talvez sugestões veladas. Não há violação legal, mas há perturbação estética. A imparcialidade esperada já não se manifesta com plenitude.
Tome-se, ainda, o caso do árbitro que, antes da audiência, elogia publicamente — em artigo, rede social ou entrevista — a atuação de uma das bancas envolvidas no caso. O elogio pode ser genérico, desvinculado do litígio. Mas quando o julgamento é sensível, técnico e dependente da confiança das partes, cada gesto público importa. A imparcialidade estética exige do árbitro uma forma peculiar de silêncio, mesmo fora da arbitragem. O gesto imparcial, nesse ambiente, é também um dever de discrição.
Considere-se, ainda, o árbitro que, minutos antes da audiência, troca comentários descontraídos com apenas uma das partes — sobre o trânsito, a cidade, ou até mesmo sobre “como a banca é sempre muito técnica”. A conversa é informal, fora da ata, sem má-fé. Mas a audiência começa marcada por um ruído de parcialidade estética. No processo judicial, isso desapareceria no anonimato da sala de audiências. Na arbitragem, onde cada gesto é observado, cada palavra importa. O CPC ignora o gesto informal. As Guidelines da IBA exigem percepção sensível do impacto do gesto no equilíbrio do procedimento.
Após a audiência, a situação se inverte: o árbitro permanece na sala virtual, sem perceber que a gravação já foi encerrada, e comenta com outro coárbitro que a tese de uma das partes “tem lógica, embora arriscada”. Não se trata de prejulgamento, tampouco de quebra de confidencialidade — mas de um comportamento que, se tornado público, criaria erosão na aparência de imparcialidade. O CPC não tipifica esse comportamento. As Guidelines, ao exigirem do árbitro diligência contínua e postura compatível com a imparcialidade, alcançam inclusive esses momentos “fora da cena”, onde o que se diz vale tanto quanto o que se decide.
Um árbitro deixa sociedade de advocacia na qual atuou por mais de uma década, sendo substituído por outro profissional que, meses depois, passa a representar uma das partes na arbitragem. O vínculo societário cessou formalmente — mas o legado relacional, a confiança construída e os valores compartilhados persistem, ainda que invisíveis. O CPC ignora esse passado: para o art. 144, a sociedade atual é o que importa. Já as Guidelines, mais atentas à persistência dos vínculos interpessoais, consideram que a atuação de ex-sócios, em litígios próximos no tempo, pode justificar revelação. Afinal, o que está em jogo não é a relação jurídica vigente, mas a sombra que ela projeta sobre a imparcialidade
Em caso recente, discutiu-se a imparcialidade de árbitro presidente que era sócio de escritório que prestara serviços a uma das partes, além de manter sociedade com o pai do advogado da mesma parte. A decisão arbitral entendeu que o primeiro fato gerava dúvida razoável sobre sua imparcialidade — mas o segundo, não. O precedente revela uma tensão central: em arbitragem, o árbitro carrega consigo a identidade de seu ambiente profissional. Ainda que não tenha atuado diretamente no caso, o simples fato de seu escritório ter prestado serviços jurídicos à parte pode afetar a confiança das partes no processo. O CPC, preso ao vínculo pessoal e imediato, dificilmente captaria essa sutileza. Já as Guidelines – e o atento comitê da CAM-FIESP reconheceram que, para além da relação jurídica, há uma identidade institucional — e que o árbitro, mesmo sócio minoritário, herda a aparência de parcialidade da estrutura à qual pertence[2].
Em outro caso, a impugnação de um coárbitro foi rejeitada mesmo após a revelação de que ele havia sido indicado oito vezes por um dos escritórios responsáveis pela defesa da requerente — quatro dessas indicações em casos nos quais o próprio escritório representava a mesma parte. A decisão afastou a alegação de parcialidade com base em argumentos de “eficiência”: a prática de nomeações reiteradas seria justificada por razões econômicas, técnicas e até mesmo pela busca de uniformidade decisória. Mas o argumento é perigosamente pragmático. Na minha opinião, equivocado. O que se banaliza aqui não é o conflito em si, mas a aparência dele. A confiança na arbitragem não se mede por estatísticas de produtividade, mas por percepção de imparcialidade. O CPC não alcança esse grau de recorrência — e parece confortável em ignorá-lo. As Guidelines, por sua vez, alertam: múltiplas nomeações sucessivas, especialmente por um mesmo patrono ou em litígios envolvendo a mesma parte, impõem ao árbitro o dever de revelação, não pela existência de um vício, mas pela erosão paulatina da confiança.
O CPC presume que o juiz é imparcial, salvo demonstração em contrário. As Guidelines presumem o contrário: que o sistema arbitral exige vigilância permanente, autorrevelação constante e análise casuística. O processo civil brasileiro ainda opera com uma lógica de exclusão objetiva do vício, enquanto a arbitragem internacional migrou para uma lógica de gestão estética da imparcialidade. É por isso que a imparcialidade do árbitro não pode ser reduzida a um checklist legal — ela é, cada vez mais, um esforço ético e performativo de transparência sensível.
Em procedimentos altamente sofisticados, onde cada palavra é registrada, cada expressão é lida como sinal de parcialidade, a imparcialidade estética torna-se mais relevante que a imparcialidade subjetiva. Esta pode ser presumida; aquela, jamais. A linguagem corporal, o comportamento nos intervalos, o ritmo da escuta, o olhar que se desvia ou que fixa demais — tudo comunica. E, nesse teatro silencioso, os advogados aprendem a ler o que não foi dito. E a confiar — ou não — com base no que viram.
A arbitragem, por seu modelo contratual, é centrada na confiança. Mas a confiança não é um dado; é uma construção contínua. Um árbitro que não se percebe como parte dessa construção — e que não se submete aos códigos não ditos da imparcialidade estética — compromete o processo. Porque o que se quebra, nesses casos, não é a legalidade; é o ambiente.
O discurso da imparcialidade precisa sair do plano declaratório e migrar para o plano sensível. Não basta declarar: é preciso parecer. E parecer exige ensaio, exige vigilância constante contra os automatismos do ego. Exige dominar aspectos de debiasing. Árbitros também têm vícios cognitivos, preferências inconscientes, repertórios afetivos. Julgam com a mente, mas também com o comportamento — e é esse agir sutil, que se manifesta no tom, na escuta, na cadência das intervenções, que pode trair a imparcialidade esperada
É preciso romper com a ilusão de que a imparcialidade se resolve com listas de verificação. Não há checklist que garanta o apagamento do ego. A estética da imparcialidade arbitral é mais exigente: pede humildade, escuta ativa, autocrítica. Pede o reconhecimento de que, muitas vezes, o gesto mais importante do árbitro não é decidir com firmeza — é escutar com equidistância.
Em tempos de profissionalização da arbitragem, a estética da imparcialidade será o diferencial entre a legitimidade e a desconfiança. Os usuários da arbitragem, cada vez mais sofisticados e exigentes, saberão distinguir entre o árbitro técnico e o árbitro justo. E o justo será aquele que, mesmo sem nada dizer, comunica imparcialidade. Aquele que, mesmo calado, transmite confiança.
A imparcialidade estética dos árbitros é, portanto, mais do que uma exigência ética. É uma forma de respeitar o pacto fundante da arbitragem: a confiança. Quando o árbitro se ausenta de si para que o processo possa acontecer em plenitude, ele não apenas respeita as partes — ele honra a própria jurisdição privada que aceitou exercer. E isso, no fim, é o que sustenta a credibilidade do sistema.
Notas e Referências:
[1] Cf Diretrizes da IBA sobre Conflitos de Interesses em Arbitragem Internacional https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=EB37DA96-F98E-4746-A019-61841CE4054C
[2] Impugnação n. 11 do Digesto da CAM-FIESP Cf. https://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/res/docs/digesto-camara_ciesp-fiesp-ceparb-usp_vf.pdf