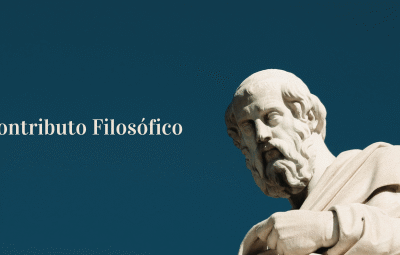Lições processuais de Kafka por ocasião do centenário de sua morte[1]
Por Fernando Gama de Miranda Netto*
(Para minha Carol)
- Introdução
A leitura de um livro sempre marca de algum modo o seu leitor. Há livros que empolgam, outros nem tanto; mas há aqueles que entram para a história, porque provocam tantas reflexões e desafios interpretativos que findam por serem traduzidos e comentados em diversos idiomas e são analisados em uma multiplicidade de perspectivas.
O Processo de Franz Kafka se enquadra neste último grupo. Acredito que o livro O Processo, de Kafka, deveria ser lido por todo estudante de Direito Processual. Essa afirmação traz, no entanto, dois questionamentos: a) Como a literatura pode contribuir para o saber jurídico, especificamente para o Direito Processual? b) Que lições podemos aprender com Kafka?
- Conexões entre o Direito e a Literatura
A linguagem constrói o mundo. Entende-se que a linguagem que se manifesta no discurso não apenas serve para descrever uma realidade, mas nela interfere como prática social. Neste enfoque, pode-se perceber como a linguagem está condicionada a certas estruturas sociais (família, classe social, legislação), mas, ao mesmo tempo, constitui e transforma o mundo. Observe-se que a análise linguística está atrelada ao caráter social dos textos, isto é, ao contexto no qual a linguagem se manifesta. Todo discurso tem uma história, mas nem tudo é registrado na fala ou no texto. Elementos explícitos podem ser descritos e interpretados, mas elementos implícitos precisam ser revelados. Portanto, o discurso reflete uma realidade cheia de significados e pode sustentar relações de poder, reproduzir ideologias, transformar crenças e estigmatizar identidades.
É preciso recordar com Barthes (1980, p. 10) que o poder se manifesta na linguagem e emboscado está em todo o qualquer discurso. Por seu turno, Norman Fairclough (2001, p. 91) assevera ser o discurso não só um modo de representação no mundo, mas também uma forma de ação das pessoas no mundo, porque permite agir sobre os outros e, ao mesmo tempo, um modo de representação.
Tanto a linguagem jurídica como a linguagem literária se expressam em discursos. Mas enquanto o discurso jurídico se prende aos dogmas da lei e as práticas reconhecidas pela comunidade jurídica, o discurso literário é disruptor e crítico, na medida em que dissolve certezas, quebra convenções, amplia os horizontes e abala tradições (TRINDADE; GUBERT: 2008, p. 13). Neste sentido, a obra literária, diferentemente da obra jurídica, é uma obra de arte cujo impacto dificilmente pode ser mensurado. A literatura muitas vezes questiona e perturba a autoridade e, neste caso, ela é por essência transgressora. Não por acaso autores foram perseguidos e presos por governos autoritários, e suas obras foram proibidas ou queimadas em praça pública.
Depois de ensinar que a literatura atua decisivamente para esclarecer variados questionamentos relativos à Justiça, à legalidade e ao poder, François Ost (2007, p. 24 e 55) assevera que, ao contrário do que ensinam nos cursos jurídicos – o Direito se origina do fato (ex facto ius oritur) –, o correto é pensar que da narrativa é que sai o direito (ex fabula ius oritur). A hipótese do autor é que o Direito seleciona um entre vários roteiros forjados pela ficção para normatizar condutas e impor sanções. Uma vez estabelecida a lei, os próprios operadores jurídicos se encarregam de flexibilizá-la e adotar outras práticas. Cedo ou mais tarde haverá um retorno das intrigas jurídicas à fábula num jogo de espelhos sem que se saiba qual dos dois discursos é ficção do outro.
No que concerne especificamente ao nascimento da Ciência do Direito Processual a partir da segunda metade do século XIX, verifica-se uma excessiva preocupação conceitual. Com efeito, enquanto os autores de processo se preocupavam em definir a natureza jurídica do processo (processo como relação jurídica, processo como situação jurídica etc.), Kafka denunciava os autoritarismos processuais ao mundo. Infelizmente Kafka foi ignorado pela doutrina processual de sua época.
- Quem foi Franz Kafka?
Nascido na cidade de Praga em 1883, era o filho mais velho de Julie e Hermann Kafka. Formou-se em Direito em 1906 e trabalhou como advogado, inicialmente, em uma Companhia de Seguros italiana e, posteriormente, na Companhia de Seguros de Acidente de Trabalho. Foi duas vezes noivo de Felice Bauer, mas não se casou, apesar de ter ao longo da vida outros relacionamentos. A partir de 1917 passou a sofrer de tuberculose e que o mataria sete anos mais tarde. A maior parte dos seus trabalhos foi publicado postumamente, graças ao seu amigo Max Brod, que negou o pedido de Kafka de queimar toda a sua obra. Kafka faleceu no sanatório de Kierling (Áustria) no dia 3 de junho de 1924. Coincidentemente, este artigo está sendo publicado no centenário da morte de Kafka, no dia em que a Faculdade de Direito da UFF completa 112 anos de existência.
Kafka era um tcheco judeu, mas se sentia um estrangeiro perante a comunidade tcheco cristã. Dentro do judaísmo não era um modelo a ser seguido, porque, como o pai, pouco frequentava o templo (KAFKA: 2023, p. 61-62). Apesar de escrever a sua obra em alemão, achava estranha a sua língua mãe pelo fato de nunca ter vivido entre alemães (Cf. CHUERI, 2008, p. 77-78).
Toda obra de Kafka é uma tentativa de resposta ao seu pai, com quem tinha uma relação problemática. É possível dizer que O Processo é um livro em que o protagonista tenta a todo custo provar a própria inocência perante o maior dos tribunais: o tribunal paterno (Cf. BACKES: 2023, p. 10). E quando o seu pai chamou os amigos escritores de F. Kafka de “mortos de fome”, Kafka escreveu “Um artista da fome”; quando o seu pai desaprovou certas amizades e recordou o provérbio “quem dorme com cães pega pulgas”, Kafka tratou de redigir “A metamorfose” (OST, 2007, p. 431).
É interessante perceber que os animais aparecem de modo constante na sua obra. Se em “A Metamorfose” o protagonista se apresenta com um inseto no início da história; em “O Processo” o protagonista é tratado no fim da obra como um cão.
- Livro O Processo (1925)
O livro conta a história de Josef K, caluniado por alguém sem ter feito mal algum. Sem saber o motivo, K é detido em sua própria residência. Vê-se, depois, obrigado a comparecer a várias audiências sem compreender exatamente de que é acusado. Ao longo da trama procura informações, mas não as encontra. Recebe conselhos sem muito nexo de um advogado e funcionários subalternos. Tenta dizer que é inocente, mas isto é inútil dentro do sistema judicial despótico.
Não se sabe se K é processado por uma preferência política, religiosa ou um suposto crime. K era apenas mais um nome (ou letra?) dentro de um procedimento sem regras conhecidas. O livro mostra como pessoas inocentes podem sofrer perseguições fora de um Estado que preza por um sistema de garantias processuais.
Por tudo isso, O Processo é um livro sufocante e não é à toa que a expressão “kafkaniano” passou a representar um evento surreal e enigmático em que a pessoa não compreende e não encontra saída para dele se afastar. A obra se apresenta, portanto, como uma parábola da burocratização e da perda da humanidade (NEVES: 2019, p. 517).
Em 1962 houve o lançamento do filme em preto e branco, dirigido por Orson Welles, com base no romance. Joseph K. é interpretado por Anthony Perkins. Em 1993 foi a vez do diretor David Hugh Jones dirigir o roteiro de Harold Pinter, tendo como protagonista o ator Kyle MacLachlan no papel de K. Há algumas cenas que podem ser encontradas no Youtube. O segundo filme pode ser encontrado na íntegra em: https://www.youtube.com/watch?v=D1ON_HfkvKM&t=11s .
É uma atividade interessante pedir para o aluno, que começa a se aventurar no mundo do Direito Processual, Literatura e Cinema, dissertar sobre as garantias fundamentais do processo a partir do livro ou do filme O Processo.
- Lições de Kafka
Kafka não escreveu sobre a dogmática processual e talvez por isso tenha sido ignorado pela doutrina processual de sua época. É verdade que os estudos de Direito e Literatura só começam na Europa na década de 1930 (cf. TRINDADE; GUBERT: 2008, p. 24 e ss.), o que pode explicar, em parte, esta falta de diálogo interdisciplinar.
De qualquer modo, é preciso saber interpretar O Processo, porque nele não se encontram lições sobre acesso à justiça. Pelo contrário, Kafka, através da literatura, fala do inacessível, do não acesso; explica a falta de método para aqueles que estão perante a lei. O personagem K vive, portanto, um pesadelo, e tenta ao seu modo lutar inutilmente contra a organização judicial burocrática.
Talvez aí esteja a chave para a compreensão do livro O Processo, a partir da perspectiva desconstrutivista: “minha (ou qualquer outra) leitura é feita daquilo que não é dado a ler no texto. Uma leitura desconstrutivista não chama a atenção, por exemplo, para a fraqueza do autor ou sua grande erudição, mas para o fato de que, aquilo que o autor apresenta está, sistematicamente, relacionado ao que ele não apresenta” (CHUERI, 2008, p. 65-66).
Interessante notar que essa preocupação com as garantias processuais já aparece na novela “Na Colônia Penal”, publicada em 1919, na qual um explorador estrangeiro é convidado para assistir uma cerimônia de tortura e execução. O oficial que defende fielmente os métodos cruéis de seu antigo comandante pondera com o explorador: “o senhor dirá talvez: ‘No meu país o procedimento judicial é diferente’, ou ‘No meu país o acusado é interrogado antes da sentença’, ou ‘No meu país o condenado tem ciência da condenação’, ou ‘No meu país existem outras punições que não a pena de morte’, ou ‘No meu país só houve torturas na Idade Média’. Todas estas observações são tão corretas quanto lhe parecem naturais, observações inocentes que não incidem sobre o meu procedimento” (KAFKA, 1998, P. 52-53).
A literatura pode ajudar o jurista a se tornar uma pessoa mais crítica e empática (TRINDADE; GUBERT: 2008, p. 19). Muito mais que dar lições dogmáticas, Kafka trabalha com uma potente racionalidade que só os gênios conseguem apresentar em suas obras. Com efeito, ao se colocar no lugar do personagem da obra literária, o leitor pode ser levado a sentir uma variedade de sentimentos como frustração, raiva, impotência, decepção e injustiça.
E se fosse eu? Até quando o ser humano será vítima de perseguições? Essas são algumas das perguntas feitas pelos seus leitores no mundo.
- Considerações finais.
O livro O Processo, de Kafka, força-nos a perquirir se seria possível viver em um mundo sem garantias processuais. Por outro lado, ainda que tais garantias existissem, de nada adiantariam, se a interpretação dada fosse para relativizá-las ou mesmo esquecê-las.
Enquanto finalizo essas minhas reflexões sobre o absurdo no mundo judicial, o nosso Supremo Tribunal Federal dá um passo além, e acaba por declarar inconstitucional, por maioria, nos autos da ADI 5.553, o inciso VIII do art. 144 do CPC/2015, que tinha por objetivo resguardar a garantia de um julgamento imparcial. O dispositivo estabelecia o impedimento para o magistrado, de exercer as suas funções no processo, “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”. No mundo de Kafka os Códigos existem, mas seus dispositivos não são conhecidos; no nosso mundo atual os dispositivos são conhecidos, mas qualquer concessão garantística corre o risco de ser adiada (v.g. juiz de garantias) ou declarada inconstitucional!
Posso imaginar que, se Kafka ainda vivo fosse, certamente sacaria uma ideia genial para escrever um livro intitulado O Grande Escritório ou Um Escritório de Sucesso. Provavelmente, o protagonista se chamaria K, mero estagiário que começa a dar os seus primeiros passos na vida forense. Ele logo percebe que o escritório a que está vinculado tem inúmeros advogados que são parentes dos Ministros da Corte Constitucional: cônjuge, namorada, irmão, primos, pai etc. Por essa razão casual, sempre que há alguma dúvida sobre um caso importante, existe um assessor, do Presidente do Tribunal, que já está acostumado a receber mensagens eletrônicas e esclarecer gentilmente pontos nebulosos.
Também é possível que, em um dos capítulos, fosse contada a história de um dos Ministros que estaria prestes a completar mais uma primavera. Nesta parte, os associados do escritório resolvem, então, oferecer uma festa surpresa para aquele senhor, já um tanto idoso, que tantos serviços realizou pela pátria. É verdade que a mídia decide explorar o assunto, mas dentro do escritório havia uma unanimidade de que aquilo era algum tipo de perseguição. Que mal haveria celebrar o aniversário com uma pessoa tão querida? Para calar a mídia cancelaram a festa e K não pôde comer bolo.
K estranha que pouco mais da metade dos parentes que constam como associados no escritório nunca pisaram ali. São todos formados em Direito, mas estão demasiadamente ocupados para trabalhar para o escritório. Um outro estagiário lhe informa que alguns associados passam no escritório em horários alternativos para assinar petições feitas pelos próprios estagiários. K continua sem entender que vantagem haveria em fazer aquilo.
No capítulo final, K está ansioso para o coquetel de lançamento do livro de um dos Ministros da Corte. Enfim iria conhecer um grande jurista e também aclamado docente em uma das maiores universidades do país. O livro possuía um nome ousado: Tratado Geral da Jurisdição. Cuidava-se, em verdade, e centenas de votos proferidos pelo autor em mais de uma década de atividade no Tribunal Constitucional. Enquanto estava na fila para colher o seu autógrafo, K folheava aquela enorme coletânea de decisões. Deparou-se com um caso curioso, em que o Ministro rejeitava a alegação de sua parcialidade formulada pela parte autora em caso no qual o réu era o time de coração do magistrado. O voto era, de fato, bem escrito e estruturado, e antes que K pudesse refletir sobre o fato de o Ministro participar das reuniões do clube e frequentar o estádio, chegou a sua vez de ser recebido com um afetuoso abraço e tirar uma foto ao lado do ministro. Qual não foi a surpresa quando viu a dedicatória em seu exemplar: “Espero que goste das minhas lições. Com carinho, Hermann”.
Espero que François Ost tenha razão: ex fabula ius oritur.
*Professor Associado de Direito Processual da Universidade Federal Fluminense (UFF, campus Niterói, desde 2009), líder do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (UFF), e membro do Programa de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’ em Sociologia e Direito (UFF, desde 2011) e em Direito, Instituições e Negócios (UFF, desde 2017). Membro da Associação Brasileira de Direito Processual (ABDPRO). Diretor Regional do Instituto Panamericano de Direito Processual (IPDP-Brasil). Ocupante da Cadeira n. 11 da Academia Fluminense de Letras.
- Referências bibliográficas
BACKES, Marcelo. “Prefácio”, in: Kafka. Carta ao Pai. Porto Alegre: L&M, 2023.
BARTHES, Roland. Aula. Trad.: Leila Perrone-Moysés. São Paulo: Cultrix, 1980.
CHUERI, Vera Karam de. “Kafka, Kavka, K.”, in: André Karam Trindade, Roberta Gubert e Alfredo Copetti Neto. Direito & Literatura: Ensaios Críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social. Coord. de tradução: Izabel Magalhães. Brasília: UnB, 2001.
LEITE, Bruno Rodrigues; VERÍSSIMO, Vitor Maia. Quem é a lei? Contribuições da obra de Franz Kafka para a crítica do juiz como autoridade. VirtuaJus, Belo Horizonte, v.4, n.6, p.143-167, 1º sem. 2019. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/virtuajus/article/view/21007/21007-75675-1. Acesso em: 22 de maio. de 2024.
KAFKA, Franz. Carta ao Pai. Trad.: Marcelo Backes. Porto Alegre: L&M, 2023.
______. O Veredicto e Na Colônia Penal. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
______. O Processo. Trad.: Modesto Carone. 7a reimpressão. São Paulo: Editora Brasiliense, 1997.
MUNDIM, Luís Gustavo Reis. A relevância da questão federal no recurso especial e o Castelo de Kafka, in: Revista do CAAP, V. 28 N. 1 (2023), disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/caap/article/view/47522, acesso em: 22.05.2024.
NEVES, José Roberto de Castro. “O Processo”, in: J. R. de Castro Neves (org.). O que os Grandes Livros ensinam sobre a Justiça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.
OST, François. Contar a Lei: as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2007.TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta M. Direito e Literatura: aproximações e perspectivas para repensar o Direito, in: André Karam Trindade, Roberta Gubert e Alfredo Copetti Neto. Direito & Literatura: Reflexões Teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
[1] Agradeço à revisão do texto realizada pelos amigos Luís Greco e Diego Crevelin de Sousa.